Autor: gibson
Não foi por falta de aviso: os gritos dos Yanomami que Bolsonaro ignorou
De quem é a culpa na tragédia dos Yanomami?
Raposa Serra do Sol: Cultura e História
Os alicerces de uma nação
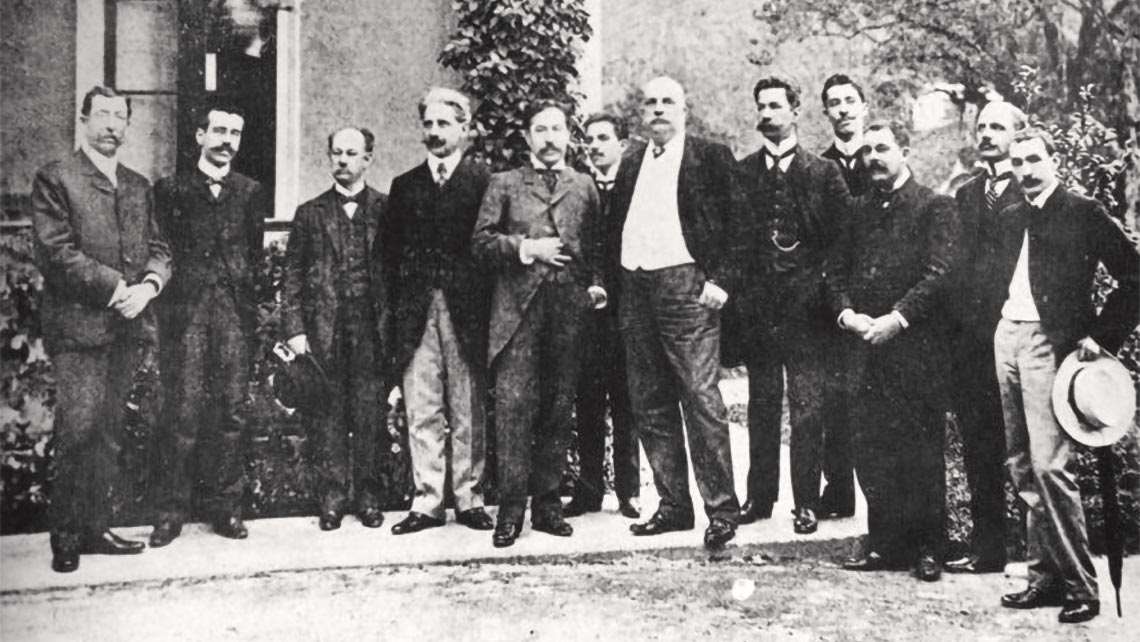
Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação Elias Mansour
Tema de debates acadêmicos desde o século XIX, a coesão do território brasileiro depois da Independência foi, durante décadas, analisada em contraposição aos processos da América hispânica, que derivaram na formação de 18 países. Nessa ampla trajetória de pesquisas, a escravização de africanos, os sistemas administrativos coloniais, o processo de formação das respectivas identidades nacionais e a definição dos territórios serviram de base para evidenciar as diferenças entre os destinos das colônias. Tal enfoque começou a mudar em meados do século XX. A tônica dos estudos atuais tem sido matizar essas comparações, evidenciando as divergências que marcaram a constituição do Brasil e as tentativas de ruptura com o governo de dom Pedro I (1798-1834).
• O suplemento especial Outras faces da Independência
• Tudo que já publicamos sobre o bicentenário da Independência do Brasil
“No início do século XIX, a região que atualmente chamamos de Brasil era composta por várias partes mais ou menos conectadas e a administração colonial não controlava todas elas. Até pelo menos 1825, o território nacional não estava assegurado, por causa dos movimentos contrários à emancipação de Portugal”, argumenta a historiadora Andréa Slemian, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo ela, a historiografia tem se dedicado a demonstrar que a imagem da existência de um território coeso foi uma narrativa construída no período imperial, atravessou a República e chegou até os dias atuais. “Políticos, historiadores e literatos valorizaram a perspectiva da grandeza e união do território nacional e opunham essa característica à fragmentação da América espanhola”, comenta a historiadora Maria Ligia Coelho Prado, da Universidade de São Paulo (USP).

Arquivo NacionalMapa indica o atual território do Acre, então designado como “região litigiosa”Arquivo Nacional
Na mesma toada, o historiador Marcelo Cheche Galves, da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), observa que, especialmente no século XIX, a narrativa histórica valorizava a unidade territorial do país. Como exemplo dessa tendência, ele aponta os textos do historiador, militar e diplomata brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), enfatizando a visão do Brasil como “herdeiro de Portugal” e a Independência como resultante de uma “cisão no seio da família portuguesa”. O diplomata, historiador e bibliófilo Manuel de Oliveira Lima (1867-1928) chegou a utilizar a expressão “desquite amigável” ao se referir à Independência. “Essas ideias formaram a base de nossa historiografia, causando reflexos no desenvolvimento desse campo do conhecimento”, sustenta Galves.
Na década de 1970, por intermédio de estudos como os do historiador Carlos Guilherme Mota, da USP, essa perspectiva começou a mudar. Mota passou a analisar a Independência a partir de elementos como as apropriações do ideário iluminista em projetos emancipacionistas de colonos locais, afirmando que o Brasil, ainda na década de 1970, era dependente de metrópoles europeias. A reflexão aprofundou-se a partir das pesquisas dos historiadores Maria Odila da Silva Leite, nos anos 1970, e István Jancsó (1938-2010), também da USP, no início do século XXI. Ambos defenderam que é preciso pensar “as independências” do Brasil, no plural. “Em 1972, ano em que foram celebrados os 150 anos da emancipação, o governo militar [1964-1985] se apropriou da efeméride para afirmar que dom Pedro I tinha dado a Independência política para o Brasil, e os militares a econômica”, pontua Galves.

Wikimedia CommonsEstátuas equestres de líderes da independência da América hispânica: Simón Bolívar em Caracas, na Venezuela…Wikimedia Commons
O historiador do Maranhão é um dos pesquisadores que têm olhado para a pluralidade do processo de Independência. De acordo com ele, o projeto de autonomia desenhado por dom Pedro I atendia aos interesses de províncias como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, deixando em segundo plano as demandas das outras províncias. Por causa disso, guerras regionais estouraram, fazendo oposição ao projeto do então governo imperial, entre elas a Revolução Farroupilha (1835-1845), na província de São Pedro do Rio Grande do Sul; a Cabanagem (1835-1840), no Grão-Pará; e a Sabinada (1837-1838), na Bahia. “No Maranhão, a população se identificava mais com Portugal do que com a Corte do Rio de Janeiro”, detalha. “Apesar de o projeto da Corte ter sido vencedor, ele não foi o único.”
O geógrafo Manoel Fernandes de Sousa Neto, da USP, recorda que o Grão-Pará e o Maranhão existiram como um estado apartado do Brasil até o início da década de 1820, quando cada região assinou tratado para integrar o projeto desenhado pelo governo de dom Pedro I. Já o Acre, região que pertencia à Bolívia e ao Peru, vivenciou conflitos armados durante anos e foi anexado ao país somente em 1903, depois da assinatura do Tratado de Petrópolis. “Até princípios do século XX, o Brasil conquistou territórios, enquanto a América hispânica foi marcada por um processo de desagregação territorial dos antigos domínios espanhóis”, compara Galves.
Partindo de reflexões desenvolvidas pelo geógrafo e cientista social Antonio Carlos Robert de Moraes (1954-2015), Sousa Neto sustenta que, desde a Independência, o país tem investido na formação das chamadas “poupanças territoriais”. “Os governantes lutaram para incorporar regiões ao Norte como forma de dispor de fundos territoriais que pudessem ser economicamente explorados, conforme a nação se formava e demandava recursos naturais para se modernizar”, argumenta, defendendo que a lógica está na base dos desafios atuais envolvendo a devastação da floresta amazônica para atividades de garimpo ilegal e plantio de soja.

Wikimedia Commons…e José de San Martín em Buenos Aires, na ArgentinaWikimedia Commons
Considerando as pluralidades de interesses e os conflitos entre províncias durante o processo de Independência, outra pergunta central tem mobilizado a investigação científica sobre o tema: afinal, por que o Brasil não se fragmentou? Não há consenso nas respostas, resultantes da análise de diferentes objetos de estudos, sendo um deles a escravidão.
Com contextos históricos e motivações específicas, algumas rebeliões registradas em território nacional durante o processo de Independência abrangiam demandas comuns, entre elas a busca por autonomia por parte das províncias para o pagamento de impostos, a insatisfação com problemas econômicos e com a presença de portugueses em cargos administrativos. Além disso, a maioria delas não trazia programas antiescravistas e, portanto, não incorporou os escravizados, inviabilizando qualquer possibilidade de radicalização. “Com isso, depois da derrota dos movimentos insurgentes, elites dirigentes de províncias como São Pedro do Rio Grande do Sul e Bahia, por exemplo, repactuaram as relações com o governo imperial para que suas demandas fossem parcialmente atendidas sem afetar a ordem escravista, naquele momento central para as atividades econômicas do país”, propõe o historiador Rafael Marquese, da USP. Marquese construiu o argumento a partir de reflexões dos cientistas políticos e historiadores José Murilo de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Luiz Felipe de Alencastro, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Eesp-FGV). Ele explica que, no século XVIII, a América portuguesa contava com 18 capitanias, com seus mercados integrados a partir de atividades de mineração. “A escravidão existia em todas as regiões com domínio branco e colonial e estruturava as relações da sociedade. Mesmo sendo um mundo cravejado de tensões, o regime escravocrata criou a solda para formar o Estado brasileiro, porque uniformizava a paisagem social e unia as elites em torno do mesmo interesse, que era a manutenção da escravidão”, sustenta.

Wikimedia CommonsRetrato do general mexicano Agustín de Iturbide, que combateu levantes pela independência e, mais tarde, mobilizou um acordo para que o México se tornasse independenteWikimedia Commons
Já na América hispânica havia várias situações diferentes, esclarece Prado. Eram menos numerosos os africanos escravizados que viviam no México, Argentina e Uruguai, enquanto na Colômbia, Venezuela, Haiti e Cuba a população de subjugados era maior. “No caso excepcional das colônias francesas de Saint Domingue, futuro Haiti, depois da abolição da escravidão pela Revolução Francesa [1789- 1799], os escravizados foram os líderes e agentes da conquista da Independência, expulsando, inclusive, os brancos de seu território”, detalha a historiadora. “Cuba, por sua vez, permaneceu como colônia espanhola por mais tempo, tornando-se independente apenas em 1898, porque as elites temiam uma rebelião como a ocorrida no Haiti, unindo esforços com o poder colonial para garantir a manutenção da ordem escravocrata”, afirma.
Em que pese a busca por nuançar o antagonismo em análises sobre os processos de autonomia de nações latino-americanas e do Brasil, depois da invasão das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte (1769-1821) na península Ibérica, em 1807, os reinados da Espanha e de Portugal tomaram caminhos diferentes. O rei dom João VI (1767-1826) decidiu deixar Portugal e se instalar no Brasil; Fernando VII (1784-1833), rei da Espanha, foi feito prisioneiro na França e viu o irmão do imperador francês, José I (1768-1844), ser colocado no trono. “Com a prisão do rei espanhol, houve resistência interna contra o monarca francês. Na América espanhola, iniciou-se uma forte agitação política que questionava a lealdade ao novo governo metropolitano”, informa Prado.

Library of the CongressRebeldes haitianos enforcam proprietário de terra durante a Revolução Haitiana (1791-1804)Library of the Congress
No caso brasileiro, a historiadora considera que a transferência da Corte para o Rio de Janeiro colaborou com a manutenção da ideia de coesão territorial. “Essa tônica foi reforçada quando, mais tarde, o próprio filho de dom João liderou o processo de Independência”, reforça. Em pesquisa realizada em atas das câmaras municipais e em jornais de diferentes províncias como parte de estudo financiado pela FAPESP, o historiador Jean Marcel Carvalho França, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Franca, constatou que dom Pedro I era reconhecido como líder, recebendo apoio popular inclusive em pequenas comunidades interioranas. Um dos resultados do estudo, concluído em 2021, foi a criação de um banco de dados aberto a pesquisadores. “Apesar dos movimentos rebeldes, de maneira geral havia um clima de euforia com a figura do príncipe, que colaborou com o processo de consolidação do território nacional”, considera França, ao mencionar, por exemplo, textos publicados no jornal O Espelho, que circulou no Rio de Janeiro entre 1821 e 1823.
Conforme Prado, da USP, outro aspecto que define o destino da América hispânica diz respeito ao fato de a Espanha contar, durante a colonização, com um sistema administrativo diferente do modelo português. A região estava organizada em quatro vice-reinados: o do Peru, cuja sede era em Lima; Nova Espanha, na Cidade do México; Nova Granada, em Bogotá; e Rio da Prata, em Buenos Aires. Além disso, existiam quatro capitanias gerais: da Venezuela, Chile, Cuba e Guatemala. “Esses elementos da divisão administrativa reportavam a um poder maior, a Coroa espanhola”, afirma.
Por sua vez, a historiadora Gabriela Pellegrino Soares, da USP, esclarece que inicialmente os vice-reinos eram leais ao rei da Espanha, que estava preso, mas aos poucos essa postura cedeu lugar a projetos de autonomia e ruptura com o poder colonial. “Assim, as regiões começaram a organizar Exércitos revolucionários para romper com a Espanha. Em 1814, Napoleão sofria derrotas e o rei Fernando VII foi restaurado como monarca do Império. Então, a Espanha enviou um grande Exército para conter os movimentos dissidentes em curso”, detalha a historiadora. Como os grupos rebeldes eram numerosos e o Exército do país dispunha de um contingente limitado de soldados, a Espanha mobilizou primeiro suas tropas para combater os movimentos de insurreição no vice-reino de Nova Granada, onde o grupo insurgente era comandado pelo general e líder revolucionário Simon Bolívar (1783-1830). “A América hispânica foi marcada por conflitos armados que varreram o continente entre 1810 e 1825”, reforça Prado.

New York Public LibraryRetrato de François-Dominique Toussaint L’Ouverture (1743-1803), líder da Revolução HaitianaNew York Public Library
A historiadora destaca que o último bastião da Coroa espanhola foi o vice-reino do Peru, que corresponde ao atual território de Peru e Bolívia, onde o vice-rei conseguiu resistir ao assédio dos revolucionários até a chegada do general José de San Martín (1778-1850) e sua tropa. San Martín participou do processo de independência da Argentina, consolidado em 1816, e atravessou os Andes com 5 mil soldados até alcançar a região. O Peru se tornou independente em 1821; a Bolívia, em 1825. “Enquanto Bolívar é reconhecido como herói da independência na Venezuela, Colômbia e Equador e Bolívia, San Martín desempenha o mesmo papel na Argentina e no Peru, tendo apoiado a libertação do Chile”, pontua.
As populações indígenas, segundo Soares, reagiram de formas distintas às campanhas por independência. Na região dos Andes, da Colômbia até o Chile, os indígenas eram camponeses cristianizados e mantinham relações estreitas com o poder colonial. “No começo do século XIX, os Mapuche que viviam na região que hoje é o centro-sul do Chile foram contrários aos projetos de emancipação, porque assinaram tratados de paz com a Espanha que poderiam ser ameaçados com a mudança de governo”, relata. Por outro lado, quando a Argentina se emancipou, o novo governo traduziu e anunciou a novidade em diferentes línguas indígenas. “Foi comunicado oficialmente a essas populações que havia um novo regime”, comenta, lembrando que integrantes de exércitos revolucionários conheciam os idiomas dos povos originários e utilizavam esses idiomas como forma de engajá-los nas lutas por emancipação.
No México, coube a um representante da Igreja Católica, o pároco Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) liderar, a partir de 1810, o primeiro movimento revolucionário defendendo o fim das relações coloniais e conclamando os indígenas a se levantarem contra os espanhóis. “O padre carregava estandartes com imagens da virgem de Guadalupe, de feições indígenas”, detalha Soares. O movimento de insurreição sofreu uma repressão violenta e Hidalgo, mesmo com o apoio de um grande exército popular, não escapou do fuzilamento. “Os movimentos rebeldes prosseguiram no país até 1821, quando o general Agustín de Iturbide [1783-1824], que antes tinha combatido os levantes pela Independência, mobilizou um acordo entre as elites para que o México se tornasse independente da Coroa espanhola”, diz Prado.

Theubet de Beauchamp / Wikimedia CommonsIturbide recebe as chaves da Cidade do México, depois da independênciaTheubet de Beauchamp / Wikimedia Commons
Já no caso do Brasil, Sousa Neto, da USP, avalia que a garantia do Estado de que as elites podiam se apropriar de terras, ter latifúndios e contar com trabalho de escravizados viabilizou a coesão do país. “Hoje, formamos um estado territorial, mas será que formamos uma nação?”, indaga o geógrafo. Sousa Neto reforça que o Brasil não apenas foi inventado simbolicamente, mas também materialmente, por intermédio de processos militares, políticos e econômicos. “O Estado brasileiro, construído durante os oitocentos, valeu-se do mito geográfico da intocabilidade territorial para manter, em torno da figura do imperador, uma forte centralização política, expressa de modo exemplar nas ações militares que debelaram as revoltas regionais ocorridas durante o século XIX”, afirma o geógrafo. De acordo com sua interpretação, somos uma sociedade que tem a coesão do território como elemento central da identidade, narrativa que foi construída em oposição à América espanhola, vista como lugar de caudilhos, guerras civis, regressão econômica e anarquia, enquanto o Brasil seria o país da unidade, ordem e civilização. “A bandeira brasileira, inclusive, traz o azul como símbolo da nobreza, e o amarelo representando o ouro, enquanto o verde remete à família real de Bragança, em uma iconografia distinta da do conjunto de bandeiras de países hispânicos, que aludem a movimentos de libertação e processos revolucionários”, compara o geógrafo.
Prado recorda que, na Venezuela, por exemplo, a identidade nacional se formou em torno da figura de Bolívar. De acordo com ela, na Colômbia, apesar de a sociedade reconhecer o papel importante desempenhado por Bolívar em sua história, o jurista, militar e político Francisco José de Paula Santander (1792-1840) tornou-se figura de referência para futuros políticos liberais. “A denominação América Latina foi inventada no século XIX e, a partir do final do século, foi-se construindo uma identidade latino-americana, em oposição aos anglo-americanos dos Estados Unidos”, finaliza a pesquisadora.
Projeto
Escritos sobre os novos mundos: Uma história da construção de valores morais em língua portuguesa (nº 13/14786-6); Modalidade Projeto Temático; Pesquisador responsável Jean Marcel Carvalho França (Unesp); Investimento R$ 958.320,68.
Livros
Vários autores. Coleção memória atlântica. Grupo de pesquisa escritos sobre os novos mundos. São Paulo: FAPESP, Fundação Editora da Unesp e Academia Portuguesa da História.
NETO, M. F. S. Um geógrafo do poder no Império do Brasil. Rio de Janeiro: Consequência, 2018.
Capítulo de livro
PRADO, M. L. C. Identidades latinoamericanas (1870-1930). In: MORA, E. A. e CARBÓ, E. P. (orgs.). Historia general de América Latina: Los proyectos nacionales latinoamericanos: Sus instrumentos y articulación, 1870-1930. Ied. Paris: Ediciones Unesco / Editorial Trotta, 2009.
Artigos científicos
NETO, M. F. S. A ciência geográfica e a construção do Brasil. Terra Livre. n. 15. p. 9-20. 2000.
MARQUESE, R. The other side of the antislavery republics: The empire of Brazil and the making of the second slavery. 7th Annual International Conference Antislavery Republics: The Politics of Abolition in the Spanish Atlantic. Gilder Lehrman Center for the Study of Slavery, Resistance, and Abolition. Yale University. 2015.
Dossiê
As independências latino-americanas. Revista USP. v. 1, n. 130. 2021.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Intérpretes do debate político

Câmara dos Deputados
escrita por indígenas
em 1822 com reivindicações ao
governo de dom Pedro I
Arquivo da Câmara dos Deputados
Em 1814, um grupo de indígenas de diferentes etnias que viviam na Vila Viçosa, no sertão do Ceará, viajou a pé até o Rio de Janeiro para solicitar a dom João VI (1767-1826), monarca do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que extinguisse o trabalho compulsório indígena na província cearense. Em um sistema no qual as pessoas recebiam privilégios em troca dos serviços prestados à Coroa, na bagagem eles carregavam cartas-patente emitidas décadas antes para comprovar vínculo e fidelidade ao rei português. A partir de 1829, representantes de etnias como a dos Guarani, Kaiowá e Munduruku visitavam propriedades em São Paulo e na Amazônia para presentear os colonizadores. Sem serem notados, e com o objetivo de fomentar uma relação mais amistosa, deixavam mantas, mel e carnes de caça na porta de casas e em dependências de seringais.
O relato das ações das etnias acima é uma das descobertas resultantes de uma abordagem consolidada nos últimos 10 anos, quando pesquisadores passaram a utilizar novos enfoques para explorar arquivos que reúnem a documentação de aldeamentos e ofícios encaminhados por governos provinciais, com o objetivo de compreender como os indígenas viam o contexto da nova ordem política. Os estudos têm demonstrado que os povos originários não eram alheios ao debate político, interpretado a seu próprio modo e utilizado para reivindicar direitos, e ao atendimento de demandas de melhores condições de vida.
Até os anos 1980, a historiografia tradicional sobre a Independência prestou pouca atenção à questão indígena, avalia a historiadora Vania Maria Losada Moreira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E, apesar de ela ser central à antropologia e etnografia, até os anos 1980 as análises dessas áreas do conhecimento consideravam cada povo em seu contexto cultural específico. O cenário começou a mudar a partir dos debates da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, com o envolvimento do movimento indígena e de intelectuais como a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, hoje professora aposentada da Universidade de São Paulo (USP) e emérita da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, propiciando o desenvolvimento do que hoje se conhece como “nova história indígena”. “Carneiro da Cunha analisou a documentação histórica e identificou duas tendências de longa duração na relação do Estado e dos colonos com os indígenas: força bruta e brandura. São tendências que operam entre a oposição e a complementaridade, sendo a brandura mais associada aos jesuítas e a força bruta aos militares”, relata o antropólogo Leandro Mahalem de Lima, do Centro de Microeconomia Aplicada da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Eesp-FGV).
• O suplemento especial Outras faces da Independência
• Tudo que já publicamos sobre o bicentenário da Independência do Brasil
Na década de 1980, para além de análises sobre cada povo em sua especificidade, os pesquisadores passaram a se preocupar em entender o papel dos indígenas em processos históricos relacionados com a colonização e a Independência. Estudiosa das grandes missões de catequização no Espírito Santo no século XVI, Moreira, da UFRRJ, explica que parte delas foi elevada à condição de vila no período em que Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o marquês de Pombal, foi secretário de Estado de Portugal, entre 1756 e 1777. “Às vésperas da Independência, parte da população indígena vivia há séculos nesses povoados. Essas pessoas participavam de lutas sociais e eram disputadas pelas elites locais. Ainda temos uma história a ser escrita sobre elas”, diz Moreira.
“No Brasil, a associação entre a Independência e a participação indígena ainda é muito rara, quando não categoricamente negada”, observa o historiador André Machado, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Em artigo no prelo para uma coletânea editada pelo Sesc (Serviço Social do Comércio), Machado menciona uma crítica que o historiador Alexandre José de Mello Moraes (1816-1882) escreveu na década de 1860, sobre a estátua equestre de dom Pedro I instalada na praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. O monumento representa o monarca no ato da Independência, rodeado por jacarés e indígenas. No texto, elaborado no auge do indianismo – período em que a literatura nacional retratava os indígenas de forma idealizada –, Mello Moraes questiona: “Que parte tiveram esses índios e aqueles jacarés na Independência do Brasil?”. Machado retoma essa passagem em seu artigo para argumentar que a visão sobre a suposta pouca relevância da participação indígena no processo de ruptura com Portugal perdurou até recentemente, posicionamento compartilhado por Daniel Munduruku, escritor da mesma etnia que carrega no nome, autor de mais de 50 livros. “A participação das populações indígenas foi omitida da produção historiográfica e, mesmo no século XIX, o olhar romântico sobre elas colaborou com sua invisibilização”, pondera Munduruku.
Na mesma toada, a historiadora Camila Loureiro Dias, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), cita o historiador John Manuel Monteiro (1956-2013), observando que estudos anteriores à década de 1980 que olharam para a história dos povos indígenas funcionaram como “crônicas de sua extinção”, ao sublinhar que eles seriam exterminados ou assimilados à população em geral. Por outro lado, a Constituição de 1988 passou a assegurar a esses povos o direito à terra e o de manter suas tradições e culturas. “Foi a primeira vez que o Estado brasileiro se reconheceu como multiétnico, aceitando o direito das populações originárias à diferença”, diz, lembrando que a mudança contribuiu para a ampliação do escopo de pesquisas historiográficas.
Apesar do avanço, Dias observa que os atuais estudos sobre a questão indígena precisam estreitar o diálogo com outras historiografias. “Em eventos históricos, cada pesquisador procura enxergar o protagonismo de seu próprio objeto de estudo. No caso da Independência, isso inclui os indígenas, os africanos e os afrodescendentes, além de diferentes governantes e colonizadores. No entanto, é preciso melhorar a articulação entre essas historiografias, aprofundando o entendimento sobre como esses grupos interagiam.”
A compreensão dos motivos que geraram a oposição de certos povos à Independência, mesmo considerando o contexto de violência e trabalho forçado a que historicamente foram submetidos, é uma das perguntas que conduzem pesquisas recentes, como a desenvolvida por Machado, da Unifesp. “Não teria sido mais provável todos os grupos se alinharem a movimentos independentistas, pela possibilidade de ruptura que eles ofereciam com o regime anterior?”, indaga o historiador. Outra perspectiva de suas análises inclui o entendimento de como o “cenário de convulsões” experimentado em processos de independência nas Américas impactou as perspectivas indígenas.

Biblioteca NacionalEstátua equestre de dom Pedro I, inaugurada em 1862, no Rio de Janeiro, é considerada a primeira escultura pública do BrasilBiblioteca Nacional
Algumas respostas a essas indagações foram obtidas durante pesquisa realizada com apoio da FAPESP e concluída em 2020. Ao observar a exploração do trabalho indígena durante os períodos colonial e imperial, Machado recorda das guerras justas, política instituída no século XVI que previa o extermínio de indígenas que se recusassem a ceder suas terras e trabalhar para os colonizadores. Em 1808, quando dom João VI chegou ao Brasil, estabeleceu guerras justas contra os indígenas Kaingang que viviam no Campo de Guarapuava, no Paraná, e os Botocudo, do vale do Rio Doce, em Minas Gerais.
O pesquisador da Unifesp recorda que nos territórios das Américas portuguesa e hispânica existiam leis que proibiam a escravização indígena, mas o dever do trabalho compulsório, com suas jornadas extenuantes e atrasos frequentes no pagamento, foi perene. Diferentemente da escravidão na qual se considerava que os sujeitos escravizados não detinham a posse de si mesmos e, portanto, trabalhavam sem remuneração, no trabalho compulsório os indivíduos recebiam remuneração pelas atividades que eram obrigados a desempenhar. “Isso não mudou com a Independência. Pelo contrário, os Estados nacionais nas Américas recriaram formas compulsórias de trabalho dos indígenas, inclusive onde os parlamentos tinham extinguido”, sustenta Machado, ao citar que metade dos ganhos do Estado boliviano no século XIX, por exemplo, envolvia a venda de mercadorias que eram produzidas a partir de mão de obra indígena. A historiadora Fernanda Sposito, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), recorda que a mão de obra indígena era estratégica para abrir caminhos de navegação, defender fronteiras e possibilitar contatos com outros povos. O conhecimento que populações originárias tinham dos oceanos, acrescenta ela, em outro exemplo, foi o que propiciou a exploração de pérolas no Caribe no início da colonização da América. “As pérolas mais valiosas eram encontradas nas regiões mais profundas e os indígenas eram obrigados a mergulhar durante horas, mesmo exaustos. Muitos morriam afogados”, informa Sposito.
Para resistir ao trabalho compulsório nessas condições, no caso do Brasil, os indígenas costumavam habitar territórios mais isolados, no interior das matas. Perseguidos, quando localizados eram amarrados em troncos ou presos, até que o recrutador capturasse a quantidade de indivíduos necessária para a formação de um grupo de trabalhadores. Segundo Machado, no Pará, boa parte da economia dependia do trabalho indígena, fundamental para a extração de bens da floresta e para o transporte fluvial de produtos. Muitas dessas mercadorias, inclusive, eram destinadas ao mercado externo, conforme o pesquisador verificou em acervos como o Arquivo Nacional, em Washington, e a biblioteca John Carter Brown, ambos nos Estados Unidos. Ao analisar outros documentos do século XIX, Machado encontrou requerimentos redigidos em português por lideranças indígenas questionando as condições de trabalho a que estavam submetidas. Dirigiam-se à Coroa e faziam diferentes tipos de solicitação. Em um deles, elaborado em 1822, os indígenas reivindicavam a deposição do intendente do Arsenal da Marinha, um dos lugares onde o trabalho compulsório era mais pesado. “Nessa solicitação, as lideranças indígenas utilizaram o discurso liberal corrente nas Cortes de Lisboa para legitimar a demanda, afirmando que o intendente era um ‘déspota’ e tinha chegado ao cargo por meio de ‘vícios do Antigo Regime’”, diz Machado.
Cortes de Lisboa era a designação do parlamento que passou a governar o Império português a partir de janeiro de 1821, como desdobramento da Revolução Liberal do Porto, movimento militar conhecido como vintismo, desencadeado em 1820 para exigir o fim do absolutismo e o estabelecimento de uma monarquia constitucional em Portugal. Além disso, o grupo também reivindicava o retorno de dom João VI, que estava no Rio de Janeiro desde 1808. “No documento, a liberdade dos trabalhadores indígenas era diretamente relacionada à ideia de liberdade promovida pelo movimento liberal do Porto, segundo a qual a sociedade deveria acabar com o poder absolutista da monarquia”, relata Machado. Ao tomar conhecimento de que as Cortes de Lisboa proibiram o recrutamento de cidadãos do Império português para o trabalho compulsório, os indígenas se aproximaram da causa dos liberais, incorporando e ressignificando a interpretação desses direitos para argumentar que não podiam mais ser convocados para essas atividades.
De acordo com Machado, as ideias da Revolução Liberal do Porto começaram a circular no Pará a partir da criação do jornal O Paraense, em 1820, que também noticiou o veto das Cortes à prisão de cidadãos sem culpa formada. Uma correspondência de 1823, identificada pelo pesquisador, mostra que um juiz de Vila Nova Del Rey, no Pará, acolheu os argumentos dos indígenas, de que não podiam ser capturados e presos para atuar no trabalho forçado, uma vez que não tinham culpa demonstrada, alinhando seu discurso à causa dos vintistas. “Povos indígenas interpretaram as novidades políticas nos seus próprios termos e fizeram cálculos de quais ações resultariam em ganhos ou perdas para as suas comunidades. As motivações, na maior parte das vezes, iam além de um simples alinhamento com os que queriam manter os laços com Portugal ou aqueles que pretendiam a ruptura”, analisa Machado.

New York Public LibraryPintura de Jean-Baptiste Debret mostra indígenas da etnia Guarani servindo ao Exército Imperial BrasileiroNew York Public Library
Em pesquisa financiada pela FAPESP e premiada pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da Universidade de São Paulo (BBM-USP), o historiador João Paulo Peixoto Costa, do Instituto Federal do Piauí (IFPI), campus de Uruçuí, investigou as políticas indígenas e indigenistas no Ceará, a partir da análise de documentos do Arquivo Público do estado e do Arquivo da Câmara dos Deputados. No estudo, ele encontrou textos em português produzidos por indígenas evidenciando que habitantes de vilas e povoados percebiam o rei como máxima entidade protetora contra proprietários desejosos de dominar suas terras e abusar de sua força de trabalho. “O constitucionalismo português era visto como uma mudança desvantajosa para certos grupos, porque representava o fortalecimento do poder político de elites provinciais, que eram seus grandes inimigos. Por isso, os indígenas do Ceará tenderam a apoiar o príncipe regente quando as Cortes de Lisboa impuseram o retorno de dom João VI a Portugal”, esclarece o pesquisador.
Costa lembra que a Constituição de 1824 não cita diretamente os indígenas, mas estabelece que todos os cidadãos nascidos no Brasil eram livres e iguais. A partir daí, os governos provinciais passaram a considerar desnecessárias leis para proteger os direitos indígenas, abolindo, por exemplo, o Diretório dos Índios, que determinava que as câmaras de vilas de indígenas deviam ser compostas, também, por representantes dos povos originários. Em pesquisa em andamento sobre a presença indígena em câmaras municipais de vilas do Ceará, Costa identificou que eles passaram a ser citados como ingênuos e incapazes depois da Lei das Câmaras de 1828, que impôs um limite censitário aos cargos de vereador. “Em menos de 10 anos depois da Independência, os indígenas perderam prerrogativas do período colonial”, comenta, mencionando que o Ceará aboliu o Diretório em 1831.
Mahalem de Lima, da Eesp-FGV, diz que o fato de a Constituição de 1824 sequer utilizar o termo “índio” deu margem a um vazio legislativo. É no marco desse vácuo legal, explica a historiadora Íris Kantor, da USP, que em 1935 foram instaladas assembleias provinciais, e a gestão dos aldeamentos indígenas e o controle da mão de obra passaram para a esfera de competência das elites. De acordo com ela, essas mesmas elites escravistas disputaram entre si os chamados fundos territoriais, expressão cunhada pelo geógrafo Antonio Carlos Robert Moraes (1954-2015) para designar áreas de terras não apropriadas ou colonizadas, que as elites latifundiárias reservavam para seus próprios interesses expansionistas e extrativistas, impedindo a demarcação oficial.
No Grão-Pará, barcos com canhões bombardeavam aldeias ribeirinhas para ocupar seus territórios, prender seus moradores e submetê-los a trabalhos forçados. Além disso, movimentos rebeldes queriam tornar a província independente do governo de dom Pedro I, que contratou o lorde inglês Thomas Cochrane (1775-1860) para liderar as esquadras para impor ordem e reprimir movimentos de oposição. “Em 1823, para obrigar o Grão-Pará a aderir à Independência, o cônego Batista Campos [1782-1834], líder da oposição na província e que era contra o trabalho compulsório, foi torturado em praça pública, enquanto 256 aliados foram asfixiados no porão de um navio, sob as ordens de um mercenário inglês, John Grenfell [1800-1869]”, relata Mahalem de Lima. Anos depois da Independência, essas tensões culminaram na eclosão da Cabanagem, revolta que aconteceu entre 1835 e 1840 e contou com intensa participação indígena. Com pesquisas sobre populações ribeirinhas, indígenas e não indígenas, na região de Santarém, no Pará, especialmente na confluência entre os rios Tapajós, Arapiuns e Amazonas, o antropólogo mapeou uma rede de parentesco que envolve mais de 2 mil pessoas e que permite recuar no tempo até a época da Cabanagem. “Mapeamentos de redes, auxiliados por ferramentas computacionais, abrem novas possibilidades de diálogo com fontes documentais escritas”, considera. Ele complementa que um dos achados desse trabalho é que, na tradição oral, o termo “cabano” é comumente associado aos brancos que, segundo os ribeirinhos, chegavam em barcos “acabano com tudo”.
Baseado em documentação histórica sobre os indígenas presentes na região do rio Madeira, que atravessa os estados de Rondônia e do Amazonas, Davi Avelino Leal, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), constatou que no século XIX o avanço da fronteira extrativista da borracha na região ocupada pelos Munduruku e os Parintintin mobilizou diferentes respostas por parte de cada grupo étnico. Enquanto os Parintintin travaram guerras, os Munduruku, com um século de intercâmbio comercial com os portugueses, passaram a trabalhar nos seringais. “Fontes históricas de vilas e povoados armazenadas em arquivos públicos revelam que alguns povos indígenas deixavam presentes, como frutas e caça, nas comunidades dos seringais. Assim, o processo de pacificação das relações, muitas vezes, partia dos próprios indígenas, e não do Estado”, relata.
Já em pesquisa com manuscritos do século XIX, redigidos por autoridades de vilas de diferentes regiões do estado e dirigidos a governantes de províncias, e localizados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, Sposito, da UFPR, identificou a existência de dois momentos nas relações entre os colonizadores e a população indígena. De acordo com ela, até a década de 1830, os brasileiros adotavam um discurso beligerante contra os indígenas, reagindo de forma violenta à sua presença nas bordas de seus territórios. Depois dessa década, documentos evidenciam que povos como os Kaiowá e os Guarani, por exemplo, buscaram estratégias para tentar mudar essa relação, adotando uma postura mais amistosa e deixando mantas e mel como presentes nessas propriedades. “Foram justamente as iniciativas indígenas no sertão paulista que pautaram esse segundo momento de relações menos conflituosas e pressionaram políticos de São Paulo a extinguir as guerras justas”, finaliza, recordando que as guerras justas foram revogadas em 1831, sob a justificativa de que um Estado civilizado não poderia promover o extermínio indígena.
Projetos
1. Entre a herança e a reinvenção: Os conflitos em torno da mão de obra indígena na província do Pará no contexto americano – 1832-35 (nº 18/20661-5); Modalidade Bolsa no exterior; Pesquisador responsável André Roberto de Arruda Machado (Unifesp); Investimento R$ 196.083,66.
2. Das políticas ameríndias às políticas coloniais: A construção da colonização da América entre os séculos XVI e XVII (nº 16/06245-3); Modalidade Bolsa de pós-doutorado; Pesquisador responsável Jaime Rodrigues (Unifesp); Bolsista Fernanda Sposito; Investimento R$ 572.024,75.
3. O capítulo “Dos índios”: Direitos, história e historiografia – 1988-2018 (nº 18/12386-4); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisadora responsável Camila Loureiro Dias (Unicamp); Investimento R$ 45.856,76.
4. Sobre a rede noite e dia? Políticas indígenas e política indigenista no Ceará – 1798-1845 (nº 13/12700-7); Modalidade Bolsa de doutorado; Pesquisadora responsável Silvia Hunold Lara (Unicamp); Bolsista João Paulo Peixoto Costa; Investimento R$ 80.600,57.
Artigos científicos
MACHADO, A. R. A. Interpretações e alinhamentos dos povos indígenas na era das revoluções atlânticas. No prelo.
SPOSITO, F. Ameridian leaders in the construction of indigenous policies in Portugal and Spanish (16-18th centuries). Revista Etnográfica. No prelo.
Dossiê
AMORORO, M. et al. (orgs.). História dos índios no Brasil. History of Anthropology Review. dez. 2018.
Livros
SPOSITO, F. Os povos indígenas na Independência. PIMENTA, J. P. (org.). In: E deixou de ser colônia. Uma história da independência do Brasil. São Paulo: Almedina, 2022.
SPOSITO, F. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012.
LIMA, L. M. Kinship networks, endogamous circuits and sociocultural identities among emergent ethnic groups and traditional riverine peasants in the Amazon river adjacencies (Brazil). In: POPOV, V. (ed.). Kinship Algebra – Алгебра родства. Выпуск. São Petesburgo: Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Muito além do brado retumbante

Ilustração: Júlia Cherem Rodrigues
Gerações de brasileiros se acostumaram com a ideia de que seu país nasceu “no grito”. Ou seja, que o gesto inaugural do Brasil independente foi um brado retumbante emitido pelo príncipe herdeiro do trono português, às margens plácidas de um riacho em São Paulo. Fixado na célebre tela de Pedro Américo (1843-1905), exposta no Museu Paulista durante mais de um século, o “grito do Ipiranga” foi o eixo em torno do qual giraram tanto a narrativa oficial sobre a Independência quanto a recepção majoritária do episódio pelo público em geral.
Parte importante da historiografia atual ressalta a complexidade de um processo que foi longo, descontínuo e progressivo. Esteve inserido em um período de grande agitação política, da Revolução Francesa de 1789 às demais chamadas revoluções atlânticas, que adicionaram uma série de ex-colônias das potências europeias à lista de nações soberanas. Episódios decisivos, como a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, e a elevação da antiga colônia sul-americana à condição de reino, unido a Portugal e Algarves, em 1815, não são meros momentos que conduzem naturalmente à Independência. E mesmo depois do episódio às margens do Ipiranga, a Independência não era fato consumado. Até o fim do ano seguinte, haveria guerras em províncias como Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e a Cisplatina (atual Uruguai).
“Há muito a historiografia trabalha a Independência com um período alargado, incluindo a invasão francesa em Portugal e a vinda da Corte para o Brasil. Alguns estudos recuam ainda mais. Considero relevante estudar o processo a partir de 1780, um momento em que a política colonial mudou no âmbito do Império português”, diz a historiadora Cecilia Helena de Salles Oliveira, do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (MP-USP). “Além disso, 1822 não foi o desfecho do processo. Faltava definir a Constituição e persistiam conflitos como a Confederação do Equador e a guerra da Cisplatina. Tudo isso só se concluiu em 1831.”
Essa ampliação de perspectiva não ocorreu do dia para a noite. Em sucessivas ondas, ao longo do último século, a interpretação da Independência foi incorporando aspectos cada vez mais amplos, dos determinantes sociais e econômicos à participação de camadas populares, em paralelo às disputas e aos acordos entre as elites. Essa história foi abordada, entre outras obras, no livro coletivo A Independência brasileira: Novas dimensões (2006), organizado por Jurandir Malerba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os ensaios reunidos ali mostram como se passou das narrativas políticas do século XIX, representadas por nomes como o de Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), visconde de Porto Seguro e autor da primeira História geral do Brasil (1854-1857), à perspectiva ampliada de um processo múltiplo e inserido nos movimentos de sua época. O Dicionário da Independência, organizado por Oliveira e Pimenta, tem entre seus objetivos apresentar o estado da arte sobre o tema na atualidade.
A vertente mais tradicional dos estudos sobre a Independência é a da história política do processo, segundo o historiador João Paulo Pimenta, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. Trata-se de investigações sobre a criação das instituições, os projetos políticos que orientavam os principais agentes, a atuação da imprensa e da sociedade civil, a organização da economia no apagar das luzes da colonização. Livros clássicos sobre a Independência, como Independência: Revolução e contra-revolução (1975), de José Honório Rodrigues, A construção da ordem: A elite política imperial (1980), de José Murilo de Carvalho, e A Independência política do Brasil (1986), de Fernando Novais e Carlos Guilherme Mota, contêm predominantemente estudos sobre esses temas, que continuam a ser revisitados e renovados.
As bases e os impasses econômicos do processo se tornaram um vasto manancial de estudos e publicações nas últimas décadas, com trabalhos como o da historiadora Wilma Peres Costa, do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que investiga a formação do Estado fiscal no Brasil, ou seja, do sistema de finanças públicas baseado no recolhimento de impostos. Em Cidadãos e contribuintes: Estudos de história fiscal, 2020, que reúne seus principais artigos publicados desde a década de 1990, Costa expõe um paradoxo. O Brasil era liderado por grandes proprietários de terra que dominavam a maior parte da renda gerada no país. Assim, precisavam tributar a si próprios. Todavia, buscavam ao mesmo tempo evitar o peso dos tributos. O paradoxo marcou o Império ao menos até a década de 1860, segundo a pesquisadora (ver Pesquisa FAPESP n° 309).
A abordagem do processo brasileiro como parte de um conjunto de revoluções na Europa e nas Américas inspira os estudos que se dedicam a entender a relação do Brasil com os países vizinhos. Pimenta é autor de A Independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808–1822), que mostra como a circulação de ideias e as trocas entre países da América Latina influenciaram os eventos do Brasil. Para o historiador, as independências formam um conjunto coeso, porém marcado por particularidades, de acordo com a situação de cada país. Para o Brasil, o fato de ter sido um dos últimos a se emancipar no continente, após o período da presença da família real, fez com que os artífices da Independência pudessem aprender com as experiências dos vizinhos.
O papel da imprensa, em particular, é objeto de importantes estudos das últimas décadas. Da extinção, em 1796, da Real Mesa Censória (rebatizada como Real Comissão Geral sobre o Exame e Censura de Livros em 1787), que mantinha um garrote no pescoço de jornalistas e editores, e, em 1808, de eventos como a permissão de imprimir livros no Brasil. Em 1821, Portugal adotou sua primeira lei de imprensa, eliminando a censura prévia. A primeira Constituição, em 1824, também rejeitou a censura e previu uma lei de imprensa.
 Ilustração: Júlia Cherem Rodrigues
Ilustração: Júlia Cherem RodriguesA circulação de jornais, livros e panfletos no tempo da Independência é trabalhada por Isabel Lustosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa, no artigo “Imprensa, censura e propaganda no contexto da Independência do Brasil”, 2010. Lustosa, também autora de uma biografia do diplomata e jornalista Hipólito da Costa, fundador do primeiro Correio Braziliense em 1808 e considerado por alguns como patrono da imprensa brasileira, mostra como grande parte dos embates entre as principais lideranças da Independência, como José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), Joaquim Gonçalves Ledo (1781-1847) e José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu (1756-1835), se deu nas páginas dos jornais, a partir de 1821 (ver Pesquisa FAPESP n° 313).
Já em Às armas, cidadãos: Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823), José Murilo de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Lúcia Bastos, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Marcello Basile, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), mostram como os “papelinhos”, panfletos políticos colados a paredes e postes das cidades do Brasil e de Portugal, influenciaram os espíritos agitados da política da época.
Outra vertente de estudos em expansão, segundo Pimenta e Oliveira, é a que busca responder à seguinte questão: como a mudança política foi vivida por grupos sociais como os indígenas, as mulheres ou a vasta população escravizada ou liberta? O sugestivo título de um artigo de Lúcia Bastos resume o sentido desses estudos: “Os esquecidos no processo de Independência: Uma história a se fazer”, 2020. Bastos mostra como a Independência tinha sentido diferente para cada grupo social. Segundo ela, o estudo de panfletos, cartas e outros documentos do dia a dia ajuda a enxergar as expectativas que negros, mulheres ou pobres tinham em relação à mudança política.
Um dos principais pesquisadores estrangeiros da transição do Brasil também se debruça sobre a experiência da população geral. Trata-se do historiador Hendrik Kraay, da Universidade de Calgary, Canadá. No livro Política racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia, 1790-1850, de 2011, Kraay mostra como a participação popular nas guerras pela Independência, que se estenderam no território baiano até 1823, foi motivada por um desejo de liberdade que não coincidia com a maneira como as elites entendiam esse conceito. Nas forças atuantes nas guerras de independência na Bahia, escravizados eram recrutados sem garantia de libertação. Ainda assim, ressalva o pesquisador, a data em que os portugueses foram definitivamente expulsos de Salvador, 2 de julho de 1823, passou a ser considerada uma versão local e popular do 7 de setembro.
Para a população submetida ao trabalho forçado, em particular, a separação de Portugal foi um divisor de águas, envolvendo esperanças de liberdade, como mostra Kraay, mas também uma profunda decepção. O período das revoluções atlânticas era o momento da primeira revolução industrial na Europa, o que implicou um rápido aumento da demanda por matérias-primas e, nos países produtores dessas mercadorias, levou à expansão e à racionalização, em vez do abandono, do trabalho escravo. Conhecido como “segunda escravidão”, conforme estudos de historiadores como Tâmis Parron, do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), e Rafael Marquese, da FFLCH-USP, o fenômeno foi particularmente forte no Brasil, em Cuba (ainda colônia espanhola) e no sul dos Estados Unidos (ver Pesquisa FAPESP n° 304).
Há um bom tempo, a historiografia da Independência tem expandido seu foco, deixando de se concentrar no que ocorria no Rio de Janeiro e seu entorno. Em 1823, por exemplo, enquanto na capital eram esboçados os artigos que deveriam compor a primeira Constituição do Brasil independente, nas províncias de norte a sul a separação de Portugal era vivida de maneira diferente. Essa dimensão regional e local do processo de divisão do Império português é assunto de diversos trabalhos recentes. Em vários estados do Norte e Nordeste, os combates entre forças políticas identificadas como “brasileiras” e “portuguesas” (tais nacionalidades ainda não tinham se separado por completo) se estenderam até 1823. A Bahia foi o principal palco das guerras de Independência, com episódios célebres como a Batalha de Pirajá, em 8 de novembro de 1822. Outros territórios também testemunharam confrontos decisivos, como a Batalha do Jenipapo, de 13 de março de 1823, disputada no Piauí.
Em livros como A Independência do Brasil na Bahia (1977), o historiador Luís Henrique Dias Tavares (1926-2020) relata o importante papel das batalhas disputadas naquela província para a consolidação do Brasil independente. O ponto de vista da população em geral é abordado, mais recentemente, por Sergio Guerra Filho, do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (CAHL-UFRB), tanto em sua dissertação de mestrado, “O povo e a guerra: Participação das camadas populares nas lutas pela Independência do Brasil na Bahia” (2004), quanto na tese de doutorado, “O antilusitanismo na Bahia do Primeiro Reinado” (2015). O historiador da UFRB argumenta que a guerra na Bahia é o ponto de convergência entre dois temas historiográficos contemporâneos: a realidade do processo nas províncias e a atuação da população. Naquele estado, a mobilização de pessoas comuns foi decisiva para expulsar as tropas portuguesas.
Em 2014, Evaldo Cabral de Mello contou parte da história do que se passou em Pernambuco em A outra Independência: O federalismo pernambucano de 1817 a 1824. Esse estado foi um importante epicentro de confrontos com o novo polo de poder monárquico no Rio de Janeiro, tendo constituído uma república em 1817 e dado início à Confederação do Equador em 1824. O historiador Flávio José Gomes Cabral, da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), também investiga esse período de agitação social e política em artigos como “Instabilidades políticas em Pernambuco no tempo da Independência do Brasil (1817-1822)”.
Cabral sublinha que Pernambuco era uma das províncias mais ricas da Colônia e Recife um de seus principais portos. Os insurgentes, contrariados com os impostos que custeavam a Corte no Rio, aspiravam a um regime republicano inspirado nos Estados Unidos. Assim, as sucessivas lutas que conduziram miravam não apenas o jugo português, mas também a nova monarquia que se instalava mais ao sul.
Artigos científicos
BASTOS, L. Os esquecidos no processo de Independência: Uma história a se fazer. Almanack, v. 1, n. 25, 2020.
CABRAL, F. J. G. Instabilidades políticas em Pernambuco no tempo da Independência do Brasil (1817-1822). Anos 90, n. 27, 2020.
LUSTOSA, I. Imprensa, censura e propaganda no contexto da Independência do Brasil. Estudios: Revista de Investigaciones Literarias y Culturales. v. 18, n. 3, 2010.
OLIVEIRA, C. H. de S. Memória, historiografia e política: A Independência do Brasil, 200 anos depois. Revista Estudos Avançados, v. 36, n. 105, 2022
Livros
CARVALHO, J. M et al. (orgs.). Às armas, cidadãos! Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823). São Paulo, Belo Horizonte: Cia das Letras, Editora UFMG, 2012.
COSTA, W. P. Cidadãos & contribuintes. Estudos de história fiscal. São Paulo: Alameda, 2020.
KRAAY, H. Política racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011.
MALERBA, J. (org.). A Independência brasileira: Novas dimensões. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
MELLO, Evaldo Cabral de. A outra Independência: O federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo: Editora 34, 2004.
PIMENTA, J. P. A Independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822). São Paulo: Hucitec, 2015.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Impostos no Brasil ajudam a compreender processo de Independência

Biblioteca Nacional
Quando o Brasil se tornou um país independente, teve de lidar com uma questão fundamental: de onde viria o dinheiro para custear o Estado? Para qualquer país, a pergunta está longe de ser banal. Decidir quem é tributado e de que forma, assim como escolher em que esses recursos são despendidos, constitui objeto de profundas disputas políticas. No caso de um país pouco povoado, escravista e recém-nascido, o problema é ainda mais espinhoso, uma vez que a base tributável costuma ser estreita e pode ser preciso incorrer em grandes despesas. Com a proximidade do bicentenário da Independência, em 7 de setembro, a questão da ordem fiscal no Brasil imperial é objeto de diversos lançamentos editoriais. Três desses livros partem do princípio de que é impossível entender a origem e a natureza de um Estado e de uma sociedade, com seus conflitos e relações de poder, sem olhar atentamente para os impostos e os gastos públicos.
Em As finanças do Estado brasileiro (1808-1898), o historiador Ângelo Alves Carrara, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mostra como as pressões de proprietários e traficantes de escravizados e a crise da Guerra da Cisplatina (1825-1828) resultaram no sistema fiscal instalado a partir da década de 1830. Baseada na tese apresentada para o concurso de professor titular em sua universidade, a obra utiliza fontes que vão desde os registros de câmaras municipais e relatórios provinciais até manuscritos guardados na Biblioteca Nacional e no acervo da Academia de Ciências de Lisboa.
Em Cidadãos e contribuintes: Estudos de história fiscal, a historiadora Wilma Peres Costa, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), debruça-se sobre o “enigma do Império”, reunindo trabalhos empíricos e teóricos realizados desde a década de 1990. Trata-se, na verdade, de um conjunto de enigmas, dos quais o principal é como se instalou um Estado fiscal no Brasil, país com uma pequena população livre, se justamente a figura do contribuinte, alguém que detém renda e paga impostos, é central para a constituição do Estado liberal moderno. O livro recebeu o prêmio Sergio Buarque de Holanda, da Biblioteca Nacional, em 2021.
Já Thales Zamberlan Pereira, professor da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas em São Paulo (Eesp-FGV), em livro a ser lançado este ano pela Companhia das Letras, com o título Adeus, sr. Portugal — Uma história econômica da Independência (em coautoria com o jornalista Rafael Cariello), argumenta que a crise fiscal da Coroa portuguesa está no coração do processo que levou à Independência do Brasil em 1822, no cenário crítico dos gastos militares de Portugal com as guerras napoleônicas e da difusão das ideias liberais e iluministas desde o século anterior. Pereira usa ferramentas econométricas para interpretar dados coletados durante duas estadas de pesquisa em Londres, a partir de relatórios consulares ingleses sobre o Brasil e informações do mercado de câmbio do jovem país.
O Estado brasileiro obtinha a maior parte de suas receitas das tarifas alfandegárias
Crise do absolutismo
Nos anos que conduziram à Independência, segundo Pereira, “existia um desconforto crescente de súditos dos dois lados do Atlântico contra o absolutismo. O que as elites de Pernambuco, da Bahia, do Porto e de Lisboa desejavam era ter algum controle sobre as rendas geradas em suas regiões”. A crise na América portuguesa ocorreu em paralelo à Revolução Liberal portuguesa de 1820, que, a partir do levante de comerciantes da cidade do Porto, se espalhou para Lisboa e ameaçou a monarquia absolutista encabeçada por dom João VI (1767-1826). “As revoltas no Brasil não foram um simples reflexo da revolução do Porto. Uma causa importante da revolta foi a crise fiscal, que gerou inflação aqui, falta de pagamentos por lá e insatisfação generalizada”, explica.
A principal reivindicação dos revoltosos era a adoção de uma Constituição, ou seja, o fim do absolutismo – sistema no qual o monarca detém poder ilimitado. Antes de mais nada, aponta Pereira, isso significava limitar os poderes do rei, particularmente o de extrair recursos da população. “Os debates na América portuguesa não eram sobre ser independente de Portugal, mas sobre impor limites às arbitrariedades da monarquia. Regiões do Brasil, como Pernambuco, não queriam pagar impostos para custear a iluminação pública no Rio. Não queriam ver as exportações de algodão serem taxadas de forma crescente para pagar guerras no sul do país”, exemplifica o economista.
Em 1821, foram instaladas as cortes constituintes, em Lisboa, que tinham representantes do Brasil. O processo deu início a disputas de poder. “As diferentes partes do Império começaram a discutir de onde viriam os impostos, como seriam controlados, por quem e para onde iriam as despesas. Havia uma quantidade maior de deputados europeus, e logo os deputados da América consideraram insatisfatórios os custos e benefícios advindos da Carta que estava sendo votada em Lisboa”, diz Pereira.
Enquanto isso, desse lado do Atlântico, as elites nas províncias mais ricas, como Bahia e Pernambuco, deixaram de enviar as receitas de suas aduanas para a Corte, no Rio de Janeiro, e estabeleceram juntas de governo locais. A maioria portuguesa na Constituinte queria suprimir empregos públicos criados no Rio a partir de 1808, além de reduzir ao máximo o comércio direto entre o Brasil e outros países, recuperando receitas alfandegárias perdidas em 1808, com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas.
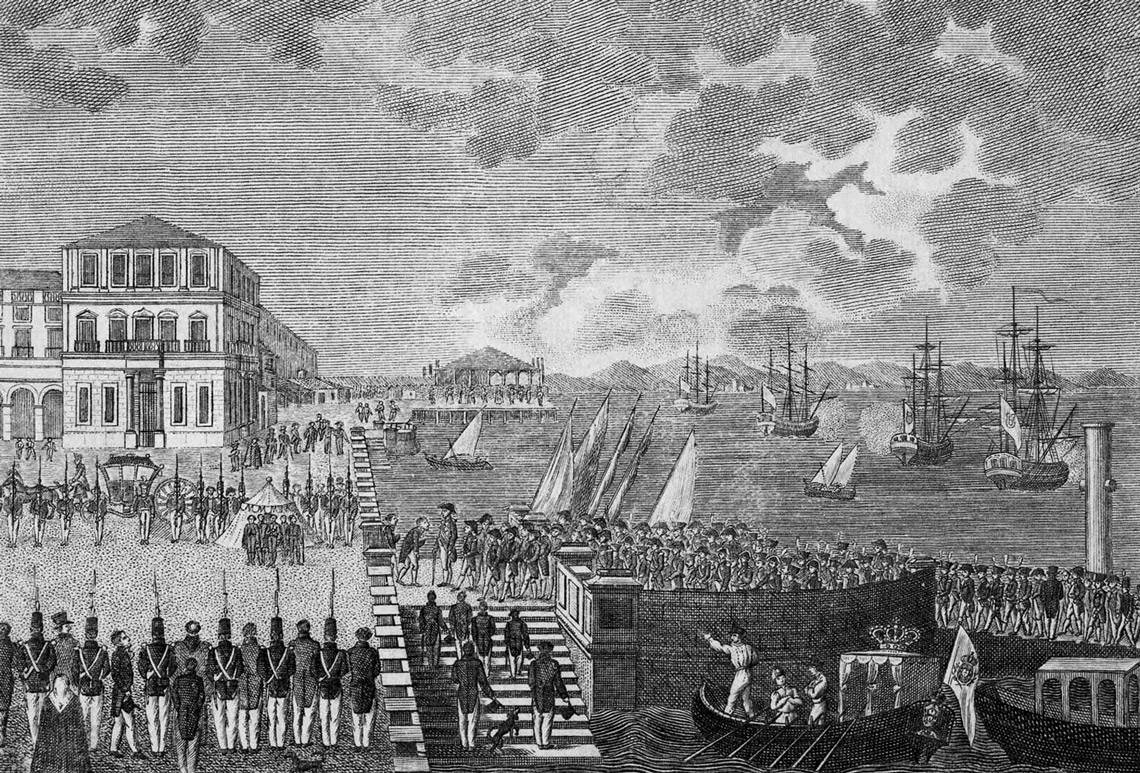
Biblioteca Nacional Regresso de dom João VI a Portugal, em julho de 1821, na obra de Constantino de FontesBiblioteca Nacional
“Cada discussão de reordenamento administrativo ou comercial trazia consigo uma consequência fiscal, impactando a repartição dos poderes dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves”, observa Pereira. Havia conflitos não apenas entre lusos e americanos, mas também entre as províncias brasileiras e o centro político da ex-colônia, no Rio. Nessas disputas, o evento decisivo para chegar à Independência em 1822 foi a proposta de dom Pedro I (1798-1834), príncipe regente instalado no Rio, de uma Constituinte exclusiva para as províncias do Brasil. Para os portugueses da América, romper com a metrópole europeia abriria a perspectiva de mais autonomia para recolher impostos e definir gastos.
Sacramentada a separação, constituiu-se no Brasil um paradoxo que pairaria sobre o sistema fiscal e tributário do país pelo menos até a Guerra do Paraguai (1864-1870). Por um lado, o governo da jovem nação precisava levantar fundos para gastos correntes, investimentos e pagamento de dívidas. Por outro, os grandes proprietários de terras e de trabalhadores escravizados controlavam a maior parte dos recursos e resistiam tanto quanto possível a ser tributados. O paradoxo está no fato de que as lideranças políticas no controle do Estado que pretendia recolher impostos eram oriundas dessas mesmas classes latifundiárias, de modo que, a rigor, tentavam tributar a si próprias e, ao mesmo tempo, esquivavam-se de seus respectivos esforços arrecadatórios.
Nos termos de Costa, a “pulsão extrativa” do Estado sofreu grandes empecilhos no Brasil, o principal deles sendo justamente a elite controladora do governo nascente, latifundiários que produziam para o mercado externo graças à exploração do trabalho escravizado e que se opuseram, ao longo de todo o século XIX, à taxação de suas bases de riqueza. Além disso, havia a dificuldade em instituir novas formas de arrecadação, para substituir o sistema de “contratantes”, em que famílias tinham o direito de recolher os impostos em nome da Coroa portuguesa. Esse sistema gerou grandes fortunas entre os colonos (como a família Silva Prado e a dos Andradas), mas também levou a conflitos quando contratantes tiveram seus interesses contrariados. Foi o caso da Inconfidência Mineira (1789-1792).
O principal elemento do impasse era a posse de escravizados, uma vez que o tráfico internacional havia sido proibido em 1831, por força de um acordo com a Inglaterra. A interdição não impediu, no entanto, que até 1850 ingressassem no país cerca de 800 mil pessoas na condição de cativas. Para tanto, observa Costa, foi necessário que a jovem nação desenvolvesse um sistema de informalidade e silêncio que comprometeu os avanços característicos da modernidade, como o cadastro das terras, o registro civil da população e um regime fiscal baseado em impostos sobre a produção e a circulação de bens.

Biblioteca Nacional Escravizados no largo da Alfândega, em meados de 1860, em obra de Luis SchlapprizBiblioteca Nacional
“Em boa medida, meus estudos tratam de coisas que não aconteceram. Eles traçam uma história daquilo que não foi, mas que por isso mesmo é significativo. Estamos falando de um Estado que passou dois terços de um século tentando fazer o censo, até finalmente conseguir, em 1872. Tentava implantar o registro civil, impor o sistema métrico, cadastrar terras. São projetos que constantemente bateram de frente com empecilhos que pareciam intransponíveis”, resume a historiadora.
O caso do imposto é emblemático porque a tributação das terras é “um elemento clássico do Estado liberal, fundamento da fiscalidade inglesa e, mais tarde, americana”, explica. Por meio dos impostos fundiários, as terras se tornavam mercadorias como todas as demais. Por isso, a burguesia em expansão podia hipotecar propriedades para ter acesso ao crédito, fomentando o crescimento econômico. Esse é um ponto central na emergência do capitalismo europeu. “Mas no Brasil os dois grandes fundamentos da ordem social, a grande propriedade e a escravidão, não são objeto de tributação. E não é porque ninguém tenha tido essa ideia. Ao contrário, houve várias tentativas, projetos, cadastros de terras que não se realizaram, leis que chegaram a ser votadas, mas não entraram em vigor”, aponta a pesquisadora.
Costa acrescenta que “há um aspecto perverso na nossa formação social”. Em muitas ocasiões, os interesses da classe dominante encontraram eco no restante da população, que também “acabou trabalhando contra a construção de uma ordem pública”, afirma a historiadora, dando como exemplo o registro civil. Enquanto o tráfico de pessoas escravizadas ocorreu no Brasil de forma ilegal de 1831 a 1850, os proprietários de terras, que empregavam os cativos, buscaram evitar a todo custo o registro desses indivíduos, para não evidenciar sua origem. Mesmo a população liberta (os forros) tampouco desejava ser registrada oficialmente.
“Essas pessoas tinham medo de perder sua situação, construída nessa ordem não estatal, extrajurídica. Como a declaração da condição de escravizado era feita pelos senhores, o temor era de ser declarado como cativo e, com isso, voltar à escravidão”, explica Costa. Em 1851, o governo promulgou o Regulamento do Registro dos Nascimentos e Óbitos do Império e uma lei que previa a realização de um censo demográfico. A iniciativa levou a um conflito armado, conhecido como Levante dos Marimbondos, no ano seguinte, em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas. “A população se referia ao registro como ‘lei da escravidão’, pensando que os senhores a usariam para compensar o fim do tráfico com a revogação das liberdades.” Segundo relatos da imprensa da época, em várias cidades do Nordeste multidões se reuniam para arrancar, das portas das igrejas, as notificações oficiais sobre o registro civil e o censo – comparadas ao enxame de marimbondos, o burburinho dos grupos de revoltosos acabou por denominar a revolta.

Biblioteca Nacional Negros de carro, de Jean-Baptiste Debret (1835)Biblioteca Nacional
Sem poder taxar as posses fundiárias e com grande dificuldade para arrecadar impostos como a meia siza, os 5% que incidiam sobre a venda de escravizados, o Estado brasileiro obtinha a maior parte de suas receitas das tarifas alfandegárias. “Cerca de dois terços, nunca menos de 50%, da receita pública vinham dos tributos às importações. Essa solução era pesada, porque onerava o conjunto da sociedade: quem comprasse um chapéu ou um piano arcava com o custo do Estado”, resume Carrara, da UFJF. “Mas atendeu aos interesses dos proprietários, porque não incidia nenhum tributo sobre a sua renda.”
A opção teve um preço alto. “O Estado não conseguiu bancar suas despesas em vários momentos. Houve um grande e crescente endividamento público, que foi sendo acumulado até o momento em que o governo não conseguiu pagar mais”, explica o historiador. Gastos como a expansão da rede ferroviária e a infraestrutura portuária, que beneficiavam o complexo agroexportador, eram financiados por esse endividamento. Com as dívidas, vieram a emissão de moedas de cobre pouco valiosas e a inflação.
Segundo Carrara, do ponto de vista fiscal já havia uma estrutura federativa no Brasil desde o período colonial, uma vez que cada província era responsável pela gestão de sua arrecadação e de seus gastos. As prerrogativas dos três níveis de governo – o geral (hoje, federal), o provincial (hoje, estadual) e o municipal – foram definidas em 1839 com a Lei nº 16, conhecida como Ato Adicional, e a proporção em que cada um arrecadava se manteve razoavelmente constante ao longo da história: o governo geral com cerca de dois terços dos recursos, as províncias com um quarto, os municípios com aproximadamente 6%. “Nos dados mais recentes que analisei, de 2020, essa distribuição segue praticamente a mesma”, observa Carrara.
No Império, as províncias tinham o direito de criar tributos, contanto que não se sobrepusessem a impostos da administração central. O problema é que restavam poucas opções: não era possível tributar as terras, nem os escravizados, nem a entrada de bens. O consumo era parco, o imposto de renda ainda não havia sido criado e raras eram as províncias que poderiam se dar ao luxo de taxar exportações: somente aquelas que dominassem uma mercadoria quase monopolista no mercado global, como foi o café e, por um breve período, a borracha amazônica.
A transição de regime não trouxe mudanças significativas nesse campo. “A República atribuiu maiores poderes aos estados, mas isso não adianta muito se eles não têm condições de exercer esses poderes”, resume Costa, da Unifesp. “Para muitas unidades da federação, o federalismo foi um engodo. A descentralização era como uma palavra mágica, mas o que ocorreu, na prática, foi que os estados pobres continuaram pobres e os ricos ficaram muito mais ricos.”
Artigo científico
PEREIRA, T. Z. Taxation and the stagnation of cotton exports in Brazil, 1800-60. Economic History Review. v. 74, n. 2, p. 522-45. 2021.
Livros
Carrara, A. A. As finanças do Estado brasileiro. 1808-1898. Belo Horizonte: Fino Traço, 2022.
Costa, W. P. Cidadãos & contribuintes. Estudos de história fiscal. São Paulo: Alameda, 2000.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Sem medo de lutar: as mulheres no processo de Independência do Brasil

Wikimedia Commons
Em 13 de maio de 1822 um grupo de 186 mulheres enviou a Maria Leopoldina (1797-1826) a Carta das senhoras baianas a Sua Alteza Real dona Leopoldina, felicitando-a pela parte por ela tomada nas patrióticas resoluções do seu esposo o príncipe regente dom Pedro. O documento reconhecia a contribuição da então princesa e futura imperatriz à permanência do marido no Brasil, fator importante no entender das signatárias para que a Independência em relação a Portugal se concretizasse. “Muito mais do que uma carta, trata-se de um manifesto político”, observa a historiadora Maria de Lourdes Viana Lyra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e autora de livros como A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: Bastidores da política, 1798-1822 (editora Sette Letras, 1994). “No Brasil da época, à mulher era delegado um papel subalterno, restrito ao ambiente privado e vinculado à família. A presença feminina era invisibilizada, mas as mulheres nunca deixaram de se mobilizar politicamente em relação à Independência, onde atuaram de diversas formas”, informa.
Em um artigo sobre o tema, Lyra chama a atenção para o fato de que, além de ações isoladas, encabeçadas por figuras notórias como a própria Leopoldina, somam-se outras “bem mais expressivas” e ainda pouco conhecidas do público em geral. No caso, mobilizações coletivas de mulheres que atuaram na cena pública no período da Independência. A historiadora Andréa Slemian, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), concorda e agrega novas questões. “Ao longo desse processo, muitas mulheres se expressaram por meio de cartas, manifestos, entre outros textos. A nascente imprensa no Brasil teve papel importante nesse sentido, não apenas ao divulgar as ideias dessas mulheres a respeito da Independência na seção de cartas dos jornais, por exemplo, mas também servindo de porta-voz e suporte para questões relacionadas ao gênero feminino e aos seus direitos”, observa Slemian, que há 20 anos estuda a história da América portuguesa e do Brasil entre os séculos XVIII e XIX.

BnFIlustração de 1789 da Marcha das Mulheres a Versalhes: mulheres participaram ativamente da Revolução Francesa (1789-1799), movimentação que causou reflexos no BrasilBnF
A mobilização feminina não era novidade no Brasil, de acordo com Lyra. “Há registros de movimentos coletivos de mulheres em Pernambuco nos séculos XVII e XVIII, por exemplo. Durante a invasão holandesa, uma proprietária de terras foi detida e um grupo de mulheres pediu a interferência do governador João Maurício de Nassau [1604-1679] para que a presa fosse libertada”, relata. No período da Independência, contudo, essa atitude ganhou força graças aos ventos revolucionários que sopravam naquele momento. “As mulheres participaram ativamente da Revolução Francesa [1789-1799], que gerou a Declaração dos direitos da mulher e da cidadã [1791]. Essa movimentação impactou em diferentes graus a sociedade da época em várias partes do mundo”, diz Lyra.
Propriedades e negócios
A participação feminina no processo de Independência do Brasil não se restringiu à palavra escrita. “Havia mulheres que cuidavam de propriedades e negócios, acompanhavam o que acontecia na cena pública”, lembra Slemian. É o caso da senhora de engenho Barbara Pereira de Alencar (1760-1832), que integrou a Revolução Republicana de 1817 no Ceará. “A província de Pernambuco era obrigada a contribuir com vultosas quantias mensais para manter a Corte portuguesa radicada no Rio de Janeiro desde 1808. Além disso, a presença real inflacionou os preços na Colônia. Isso tudo gerou descontentamento da elite às camadas populares, funcionando como gatilho para a revolução”, conta o historiador Flavio José Gomes Cabral, da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que prepara um livro sobre o episódio. “O levante iniciou-se em Pernambuco e se estendeu para o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba.”

Wikimedia CommonsRetrato de Barbara de Alencar (1760-1832), feito por Oscar Araripe em 2017: senhora de engenho integrou a Revolução Republicana de 1817, no CearáWikimedia Commons
Nascida em Pernambuco, Alencar mudou-se após o casamento para o Ceará, onde, viúva, passou a comandar o engenho Pau Seco, na região do Crato. “Pelo lado materno, ela tinha ascendência indígena e, pelo paterno, portuguesa”, relata Cabral. Dois de seus filhos frequentaram o Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça de Olinda, ligado à diocese de Pernambuco e aguerrido núcleo revolucionário da província. Um deles era José Martiniano Pereira de Alencar (1794-1860), que no futuro viria a ser o pai do romancista José de Alencar (1829-1877). “José Martiniano contou com o apoio da mãe para disseminar no Crato ideias a favor da revolução, sobretudo na organização de reuniões que atraíam parentes e amigos da família”, prossegue o pesquisador.
Com o desmonte da revolução, Barbara de Alencar foi presa em 13 de junho de 1817 e conduzida à cidade de Fortaleza. “Antes foi exposta à execração pública nas ruas do Crato”, conta Cabral. Recuperou a liberdade cerca de três anos depois, em novembro de 1820, após passar por cadeias de Recife e Salvador. “A história de Barbara de Alencar é ainda pouco conhecida”, observa Lyra. Um dos motivos, segundo a especialista, é que ao longo dos séculos XIX e XX a historiografia brasileira tratou da Independência do Brasil com foco no 7 de setembro de 1822 e nas articulações engendradas por homens em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
De acordo com Slemian, esse quadro vem mudando nas últimas duas décadas com a emergência de estudos pautados pela diversidade nas universidades brasileiras. “Mas ainda há muito a ser pesquisado”, constata. Uma das grandes dificuldades para que novas pesquisas avancem envolve as fontes oficiais do período, segundo Sérgio Armando Diniz Guerra Filho, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). “Esses documentos foram escritos por homens brancos da elite e, em geral, excluem a participação de outros segmentos da sociedade, como pobres, mulheres, negros e indígenas”, diz o historiador que em seu mestrado investigou a participação popular na guerra de Independência na Bahia (1822-1823).
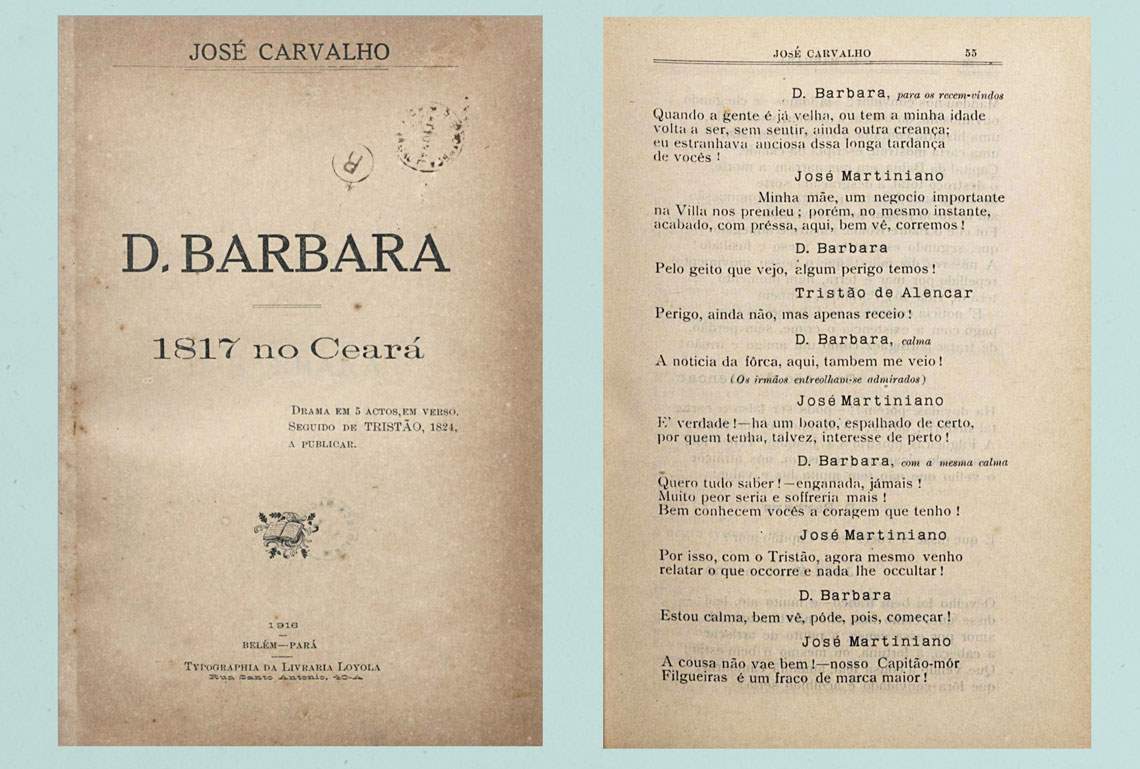
Biblioteca NacionalDrama escrito em 1817 sobre a vida de Bárbara de AlencarBiblioteca Nacional
Entretanto, pistas da presença feminina podem ser observadas em manifestações populares, defende o estudioso. “Desde o século XIX os cortejos cívicos da independência na Bahia, comemorada em 2 de julho, homenageiam a figura do caboclo. Esses símbolos da participação popular na guerra contra os portugueses não raro são do sexo feminino, como acontece no município de Santo Amaro da Purificação”, relata Guerra Filho. Outro indício está no cortejo conhecido como Careta do Mingau, que sai em julho pelas ruas de Saubara, também no Recôncavo Baiano. “As mulheres se cobrem com lençol para lembrar as conterrâneas que se fantasiavam de assombração no passado para levar alimento de madrugada aos combatentes entrincheirados. Cuidar da alimentação e das fardas, além dos doentes nas enfermarias, é outra dimensão da participação feminina no processo de Independência”, diz o pesquisador.

Coleção Anne S. K. Brown, Brown University, ProvidenceRetrato de Maria Quitéria de Jesus (1792-1853), que se disfarçou de homem para lutar contra os portugueses na BahiaColeção Anne S. K. Brown, Brown University, Providence
Contra a ditadura militar
Nem todas as mulheres ficavam na retaguarda, a exemplo de Maria Quitéria de Jesus (c.1792-1853), que se disfarçou de homem e adotou a alcunha de soldado Medeiros para lutar contra os portugueses na Bahia. “Ela era reconhecida entre a tropa pela boa pontaria e sua real identidade só foi revelada quando o pai foi buscá-la em Cachoeira, então capital interina da Bahia. Quitéria recusou-se a voltar para casa e continuou lutando”, diz Guerra Filho. Em 1823 a combatente recebeu de Pedro I o grau de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, no Rio de Janeiro.
A imagem de Maria Quitéria como heroína da guerra da Independência começou a ser construída logo no início do século XIX, constata o historiador da arte Nathan Gomes na dissertação de mestrado “Teatro da memória, teatro da guerra: Maria Quitéria de Jesus na formação do imaginário nacional (1823-1979)”. Defendida em abril, no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo (USP), a pesquisa teve apoio da FAPESP. Segundo Gomes, a história da baiana ganhou destaque ao ser narrada no livro Journal of a voyage to Brazil and residence there during parts of the years 1821, 1822 and 1823. Trata-se do relato de viagem da artista e escritora inglesa Maria Graham (1785-1842), que, entre outras atividades, trabalhou como preceptora dos filhos de Pedro I e Leopoldina no Rio de Janeiro.
Lançada em 1824 pela editora britânica Longmann & Co., a publicação também trazia um retrato da baiana, cuja autoria a pesquisa atribui aos ingleses Augustus Earle (1793-1838) e Denis Dighton (1792-1827), além do gravador Edward Finden (1791-1857). “Quitéria está de corpo inteiro, com um saiote sobre a farda. Essa foi a imagem dela que ficou”, aponta Gomes. Entre 1840 e 1930 uma série de ações desenvolvidas sobretudo pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) e Museu Paulista (MP) contribuiu para espraiar a fama da combatente baiana na memória coletiva. “O auge da consagração nesse período ocorreu no centenário da Independência, em 1922”, afirma o pesquisador. Na época o Museu Paulista, que hoje pertence à USP, passou a exibir em seu salão nobre um retrato de Maria Quitéria pintado em 1920 pelo italiano Domenico Failutti (1872-1923) junto de telas como Independência ou Morte! (1888) de Pedro Américo (1843-1905).

IpacNo cortejo Careta do Mingau, mulheres se cobrem para lembrar as conterrâneas que se fantasiavam de assombração para levar alimentos a combatentesIpac
O processo de apropriação da imagem de Maria Quitéria avançou no tempo, como mostra a pesquisa. Em 1953, ano do centenário de sua morte, a oficial baiana ganhou a primeira biografia: em tom romanceado, é assinada por Manuel Pereira Reis Júnior, historiador baiano à frente das comemorações da efeméride. Naquele mesmo ano o Exército brasileiro tornou obrigatória a presença de um retrato da combatente em suas repartições e criou a comenda Maria Quitéria. Bem mais tarde, em 1996, ela se tornaria Patronesse do Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro. “Nos anos 1980 a corporação passou a aceitar oficiais do gênero feminino”, ressalta Gomes.
A pesquisa chega até a década de 1970, quando o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA) converteu Maria Quitéria em símbolo contra o autoritarismo na ditadura militar (1964-1985). Criado em 1975 por um grupo de mulheres de São Paulo, o MFPA rapidamente se espalhou pelo país. À frente da iniciativa estava a dona de casa e ativista Therezinha Zerbini (1928-2015), cujo marido, militar, havia sido cassado pelo golpe de Estado. “A luta de Therezinha contra a ditadura era antiga. Ela foi uma das organizadoras do congresso clandestino da UNE [União Nacional dos Estudantes] realizado em Ibiúna [SP], em 1968, por exemplo”, conta Gomes.
Em relação ao MFPA, a escolha de Maria Quitéria como símbolo fez parte de uma estratégia deliberada do movimento de se associar a uma personagem já cativa no panteão das Forças Armadas, mas cujo significado extrapolava o campo estritamente militar. Podia representar, por exemplo, a defesa da participação das mulheres na política”, assinala Gomes. “Elas acreditavam que com isso poderiam agir com mais liberdade.” A estratégia funcionou parcialmente. Em 1977, a primeira edição do boletim Maria Quitéria, além de cartazes e panfletos com a imagem dela, foi apreendida pelo SNI [Serviço Nacional de Informação], que também infiltrou um fotógrafo em uma manifestação que o movimento participou naquele ano em Salvador.

NyplRetrato de Maria Leopoldina feito por autor desconhecidoNypl
Alternativa moderada
No salão nobre do Museu Paulista, o mesmo que abriga o retrato de Maria Quitéria, está uma tela em homenagem à imperatriz Leopoldina, também pintada por Failutti na década de 1920. “Nascida em Viena, Leopoldina era filha de Francisco II, imperador da Áustria, e foi educada para reinar. Ao se casar com o príncipe herdeiro do Reino Unido luso-brasileiro, o futuro imperador dom Pedro I, mudou-se para o Brasil com a crença de que o fortalecimento da monarquia nos trópicos seria benéfico para a manutenção dos regimes absolutistas em decadência na Europa desde a Revolução Francesa”, diz Lyra, da UFRJ, autora da biografia sobre a austríaca que integra o livro Rainhas de Portugal no novo mundo: Carlota Joaquina, Leopoldina de Habsburgo, publicado pela editora portuguesa Círculo de Leitores, em 2011.
Segundo Slemian, a atuação política de Leopoldina na Corte portuguesa aconteceu principalmente no início da década de 1820. “Ela desempenhou um papel importante no processo de Independência, que exerceu com extrema racionalidade e de forma mais cautelosa do que o marido”, observa a especialista, autora do verbete sobre Leopoldina no Dicionário da Independência: História, memória e historiografia, previsto para ser lançado no segundo semestre. “Entretanto, não é possível falsear sua atuação. Leopoldina era conservadora, morria de medo de sublevação social e lutou por uma alternativa de independência moderada, com a manutenção do príncipe no trono. Esse foi, por sinal, o projeto materializado em 1822”, conclui.
Projeto
À guerra, americanas, vamos com espadas cruéis: Retrato, gênero e identidade nacional no Brasil ‒ 1820-1920 (nº 19/19376-7); Modalidade Bolsa de Mestrado; Pesquisadora responsável Ana Paula Cavalcanti Simioni (USP); Beneficiário Nathan Yuri Gomes; Investimento R$61.965,25.
Artigo científico
LYRA, M. L. V. A atuação da mulher na cena pública: Diversidade de atores e de manifestações políticas no Brasil imperial. Almanack Braziliense, n. 3, p. 105-22, mai. 2006.
Livro
FURTADO, J. e SLEMIAN, A. Uma cartografia dos Brasis: Poderes, disputas e sociabilidades na Independência. Belo Horizonte: Fino Traço (no prelo).
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Justiça da Independência teve rupturas, mas também continuidade
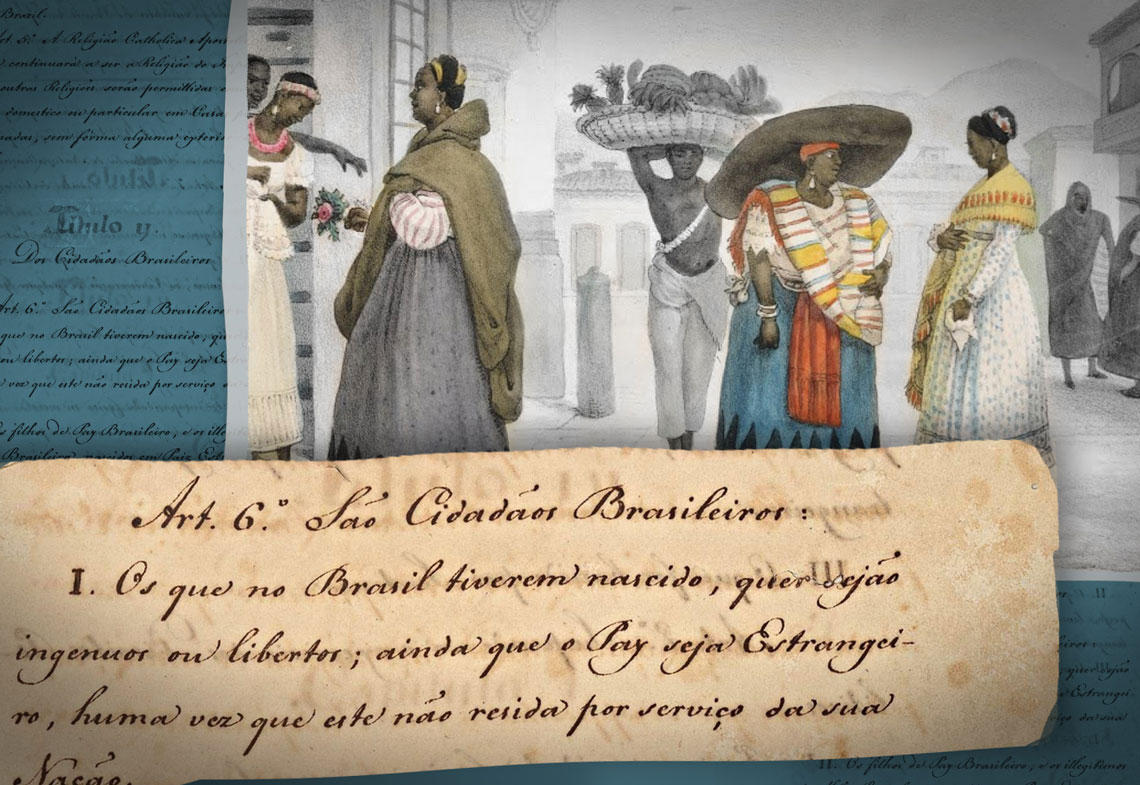
Museu Imperial
Em julho de 1826, na recém-criada Câmara dos Deputados do Brasil, foi protocolada a petição de um indivíduo de nome Delfino, que afirmava ser um liberto, injustamente preso no Rio de Janeiro, enquanto se desenrolava uma disputa judicial sobre a legalidade de sua alforria. No texto, para resgatar Delfino do calabouço, seus representantes evocavam temas caros àquele período histórico: a liberdade individual, as garantias constitucionais e a presunção de inocência. Depois de uma guerra de agravos, embargos e recursos, o caso chamou a atenção dos parlamentares eleitos.
O episódio é relatado no artigo “Escravo até prove-se o contrário: Petição do liberto Delfino à Câmara dos Deputados (1826)”, das historiadoras Adriana Pereira Campos e Kátia Sausen da Motta, ambas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na história de Delfino, é possível ver em filigrana diversos elementos que compunham a Justiça nos primeiros anos do Brasil independente: o uso das petições, o papel do Parlamento, a difícil situação de escravizados e libertos. Era um tempo de rupturas, mas também de continuidade, que se refletiu no exercício da Justiça do país.
O começo do século XIX foi marcado por transições não só no Brasil, mas também na Europa e nos demais países da América. Na esteira das revoluções americana e francesa, surgiam os Estados constitucionais e representativos, para suplantar as monarquias do “antigo regime”. A Justiça e suas instituições foram profundamente transformadas por essa transição. Até o século anterior não havia separação dos poderes como a que conhecemos hoje. “A principal função do monarca, na lógica do “antigo regime”, era a Justiça, entendida como dar a cada um o que lhe é de direito”, afirma a historiadora Monica Duarte Dantas, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). “É uma Justiça que não se baseia simplesmente na aplicação de leis positivas – tal como se conhece hoje –, mas envolve uma série de outras produções normativas, escritas ou não. ”
As fontes do direito, ou seja, aquilo que fundamenta as decisões dos magistrados, eram múltiplas, incluindo a legislação régia (cujas complicações eram conhecidas no Império português como ordenações), mas também corpus do direito romano e do direito canônico, doutrina, normas e costumes locais, muitas vezes não escritos. “Dado que se tratava de uma sociedade corporativa, e não uma sociedade de indivíduos, administrar a justiça pressupunha considerar as particularidades e privilégios derivados do lugar social que cada um ocupava. Vários desses corpos possuíam não só normas e práticas próprias, que não estavam hierarquicamente abaixo da legislação régia, como tinham direito a tribunais ou juízes privados. Havia, por exemplo, o juízo dos moedeiros [fabricantes de moedas], que só deixou de existir em 1830. E os moedeiros, como todos os que desfrutavam de juízos próprios, podiam demandar que quaisquer casos, envolvendo até mesmo suas famílias, fossem julgados em tais foros privados”, acrescenta Dantas.
Segundo José Reinaldo de Lima Lopes, da Faculdade de Direito da USP, a Constituição brasileira de 1824 (com alguns excertos ilustrando esta reportagem) adotou o molde das cartas europeias da Restauração, período que se seguiu à queda de Napoleão Bonaparte (1769-1821) na França, em 1815. “Era monárquica, moderada, com participação limitada dos cidadãos e diversos mecanismos de filtragem do poder imediato do povo, como eleições indiretas e o voto censitário”, resume. Os arquitetos da nova ordem política e jurídica conceberam um princípio de “governo misto”, conjugando elementos populares (como as eleições), aristocráticos (como o Senado vitalício) e monárquicos (como o imperador). “Os debates da época no Brasil mostram que havia muito desejo de mudar, combinado com o temor das inclinações passionais das ‘massas’, tanto de homens livres quanto de escravizados. As convulsões e instabilidades das décadas de revolução eram bem conhecidas e assustavam muito”, afirma Lopes.
Essas características bastavam para que o ordenamento jurídico a ser criado fosse muito diferente do anterior. “Tanto que levou muito tempo para que os oficiais e servidores públicos se acostumassem. Os juízes, por exemplo, continuavam consultando o governo sobre como decidir certos casos”, observa Lopes. “Muito do que chamamos de direito privado, como o direito dos contratos, da posse e da propriedade, da família, dos negócios, continuou sendo regido por leis e doutrinas existentes anteriormente à Independência. A Igreja continuou gozando de sua jurisdição sobre assuntos de família e sobre seus próprios instrumentos de ação.”
Para a historiadora Andréa Slemian, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), embora a Constituição de 1824 não tenha, no Brasil, instalado de uma vez por todas um Estado nacional e moderno, ela é um documento de princípios cujo efeito mais relevante é projetar um novo modelo político, centrado no poder das leis, não mais do monarca. “É possível dizer que a primeira Constituição tinha menos poder normativo do que a de hoje, porque muito da prática jurídica anterior foi mantida”, observa. “Mas a Carta tinha a pretensão de normalizar uma nova sociedade, sob novos princípios. Ao projetar esses princípios, a Constituição foi um documento de referência para a construção da Justiça em todo o século XIX.”

Museu ImperialTambém de Debret, o quadro mostra a entrega de mantimentos a prisioneiros, em 1839Museu Imperial
A Constituição de 1824 previa a criação de um Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para julgar empregados privilegiados, como ministros, conselheiros de Estado, empregados diplomáticos, presidentes de província, e conceder revista nos processos julgados, em segunda instância, nos tribunais de Relação. O STJ passou a funcionar em 1828. Mas a Casa de Suplicação, criada no Brasil quando da chegada da família real, só deixou de existir em 1833. A Carta outorgada previa também a elaboração de códigos – mencionando especificamente o Civil e o Criminal. Enquanto os novos textos eram elaborados, o país manteve total ou parcialmente vigentes as leis de seu tempo de Colônia. Os dois primeiros códigos – Criminal e de Processo Criminal – foram adotados, respectivamente, em 1830 e 1832. As discussões sobre um código comercial começaram na década de 1830, mas ele só foi aprovado em 1850. Na segunda metade do século, foram debatidos projetos de um Código Civil. Ele só seria aprovado, contudo, em 1916.
Os códigos aprovados no começo da década de 1830 continham dispositivos que, enfim, revogaram a legislação penal do período anterior e, por isso, constituíram marcos na transição política do Brasil, de Colônia a país independente na era moderna. Já a legislação civil se manteve no registro anterior, com atualizações. “Quem fez essas atualizações foram os próprios doutrinadores do direito. O caso mais famoso é o das ordenações filipinas, editadas por Cândido Mendes [1818-1881] em 1870. Ele elencou o que seguia em vigor e o que não vigia mais”, diz Slemian.
A Carta de 1824 introduziu duas inovações principais no ordenamento jurídico do jovem país. Ambas refletiam uma preocupação com o modo de funcionamento da Justiça. “O Judiciário do Brasil nascente não foi pensado para uma sociedade de massas como a nossa, mas primeiramente para resolver o problema da corrupção da Justiça colonial e do arbítrio dos juízes na aplicação das penas”, comenta Lopes.
A primeira dessas inovações foi o júri, tanto em matéria criminal quanto em matéria cível. Novidade oriunda dos países anglo-saxões e adotada na Revolução Francesa para casos criminais, foi originalmente adotado no Brasil para os crimes de abuso de liberdade de imprensa, sendo expandido para todos os crimes em 1832. O júri era considerado, segundo Dantas, um bastião de defesa e garantia dos direitos dos cidadãos. Ainda que a Constituição previsse o júri no cível, ele nunca foi efetivamente adotado. Ainda que várias das lideranças do processo de independência dos países hispano americanos defendessem a instituição dos jurados, ele só seria de fato adotado décadas depois. Segundo Slemian, o júri refletia os anseios dos movimentos revolucionários latino-americanos por formas de justiça popular.
A segunda foi a eleição para o cargo de juiz de paz, autoridade que não precisava ter formação jurídica e exercia funções amplas. Previsto na Constituição para a conciliação, em 1827 tornara-se responsável também pela manutenção da ordem pública, pelos corpos de delito e por julgar pequenas causas, tanto cíveis como criminais. Em 1832, passou a responder também pela formação da culpa, correspondente ao que hoje chamamos de inquérito. Havia um juiz de paz para cada freguesia, a menor divisão administrativa do país. “Nesse sentido, o juiz de paz tinha proximidade maior com a população do que as autoridades municipais e, mais ainda, os juízes de direito, um por comarca, a maioria delas compreendendo vários municípios, ou seja, territórios muito vastos”, diz Dantas.
Diferentemente das eleições para deputado e senador, que eram indiretas, os vereadores e juízes de paz eram escolhidos pelo conjunto de todos os votantes, isto é, homens livres com mais de 25 anos e renda superior a 100 mil réis anuais, incluindo analfabetos e libertos. “Era um valor baixo, que ficou ainda menor com o passar dos anos devido à inflação”, comenta Dantas. “A população estava mais próxima dessa Justiça do que estamos hoje em dia, por exemplo.”
De acordo com o cientista político Christian Lynch, do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj), a adoção do sistema de jurados e a eleição de juízes de paz sem formação jurídica estão associadas a um projeto de descentralização política, característico de elites locais. No Brasil, essas elites eram compostas sobretudo por proprietários de terras, donos de escravizados e integrantes da burocracia estatal.

Pinacoteca do Estado de São PauloA chegada de desembargadores ao Palácio da Justiça, em 1839, no Rio de Janeiro, na visão de DebretPinacoteca do Estado de São Paulo
“Essa categoria queria seguir o modelo dos Estados Unidos, que elegia xerifes e usava o sistema de júri, porque odiava o ‘antigo regime’. Os juízes de fora e desembargadores, que eram bacharéis, apareciam para eles como representantes de uma antiga nobreza, do Estado central”, explica. “Por isso, simpatizavam com a ideia de juízes e jurados locais, eleitos pelo povo. Mas o Brasil não tinha povo como na Europa. Era um país escravista, então a maior parte da classe trabalhadora estava excluída, sem direitos civis. Quem era o povo? Os donos de escravizados. Em um país como esse, federalismo era quase feudalismo”, conclui.
Na década de 1840, parte dessas inovações foi revogada com a reforma da legislação. O juiz de paz perdeu suas funções judiciárias para delegados que não eram eleitos, mas indicados pelo poder central no Rio de Janeiro. O movimento fez parte do chamado “regresso conservador”, em que a tendência à descentralização política foi revertida no país.
A instituição das petições, como a que o liberto Delfino endereçou à Câmara dos Deputados, é remanescente das práticas do período anterior, observa Slemian. “Se uma pessoa escravizada tivesse comprado sua liberdade, mas o senhor ou seus herdeiros se negassem a reconhecê-la, havia dois caminhos. Podia abrir um processo ou enviar uma petição ao governador, que tinha o poder de fazer com que a questão fosse investigada e até mesmo que a alforria fosse cumprida”, resume. O parágrafo XXX do artigo 179 da Constituição de 1824, que continha uma declaração de direitos, cristalizou no novo regime a instituição das “reclamações ou petições” ao Legislativo e ao Executivo.
A historiadora pesquisou os chamados tribunais da relação, que correspondiam à segunda instância e estavam instalados em Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Luís. Embora fosse uma instituição essencialmente jurídica e, no caso do país independente, formalmente pertencente ao Poder Judiciário, o tribunal da relação também lidava com as petições, documento não vinculado a processos judiciais. “As petições tinham muita força no mundo jurídico antigo. Elas mostram que, apesar de todas as críticas à morosidade da Justiça e à corrupção dos juízes, existiam formas efetivas de capilaridade social da Justiça”, afirma.
Na petição de Delfino, lê-se que “o suplicante, como liberto, é um cidadão e como tal não pode ser preso, e muito menos continuar a existir em prisão”. A frase expressa uma característica da Constituição aprovada poucos anos antes, a respeito de um traço marcante do Brasil. Embora a escravidão fosse uma das instituições basilares do país no século XIX, há uma única referência a ela no texto constitucional de 1824, e velada: “No artigo 6°, parágrafo I, constam entre aqueles com direito à cidadania brasileira os nascidos no território brasileiro, ‘quer sejam ingênuos ou libertos’”.
Assim, como mostram Campos e Motta, os representantes de Delfino recorreram ao texto constitucional para afirmar que, ao receber a carta de alforria, ele não apenas deixava a categoria de escravizado como adentrava a de cidadão. Ora, a declaração de direitos do artigo 179 vedava a prisão sem culpa formada, instituía a fiança e abria a possibilidade de queixas a prisões arbitrárias.
Todavia, para infelicidade de Delfino, os parlamentares não deram abrigo aos argumentos. Em sua resposta, declararam que “o suplicante não pode dizer-se cidadão enquanto não for ultimamente decidida a questão que pende sobre a sua liberdade”. Com isso, Delfino teve de esperar no cárcere a decisão final do nascente Judiciário brasileiro. O registro dessa decisão ainda não foi encontrado.
Projetos
1. Remédios para a Justiça: Um estudo sobre os recursos judiciais nos Tribunais da Relação, entre o Império português e o do Brasil (c. 1750-c.1840) (no 17/18137-3); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisadora responsável Andréa Slemian (Unifesp); Investimento R$ 86.632,81.
2. Governantes e juízes: O problema da determinação do direito no Brasil imperial (nº 15/23689-0); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Pesquisador Visitante – Internacional; Pesquisador responsável José Reinaldo de Lima Lopes (USP); Pesquisador visitante Carlos Garriga Acosta; Investimento R$ 34.520,68.
Livros
LOPES, J. R. de L. História do direito e da Justiça no Brasil do século XIX. Curitiba: Juruá, 2017.
LYNCH, C. E. C. Da monarquia à oligarquia. História institucional e pensamento político brasileiro (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2014.
SLEMIAN, A. Sob o império das leis. Constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834). São Paulo: Hucitec, 2009.
CAMPOS, A. P. e MOTTA, K. S. da. Escravo até prove-se o contrário: Petição do liberto Delfino à Câmara dos Deputados (1826). In: O espelho negro de uma nação. A África e sua importância na formação do Brasil. Vitória: Edufes, 2019.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Qual foi o caminho de dom Pedro até o local da Independência?
Erros e acertos dos caminhos da Independência

Hélio Nobre / MP-USP
Em 7 de setembro de 1822, antes de subir a serra do Mar e chegar à cidade de São Paulo, então com 10 mil habitantes, Pedro de Alcântara (1798-1834), filho do rei de Portugal, dom João VI (1767-1826), e príncipe regente do Brasil, valeu-se de um barco para ir de Santos a Cubatão. O trecho não foi feito a cavalo, como consta em alguns livros de história, porque não havia caminho por terra entre a ilha santista e o continente.
Ao subir a serra por um caminho de pedra conhecido como Calçada do Lorena e mesmo ao gritar o famoso “Independência ou morte”, o príncipe regente e seus 36 acompanhantes provavelmente estavam em mulas, não em cavalos garbosos como os do famoso quadro do pintor Pedro Américo (1843-1905). As mulas eram o meio mais seguro de subir a serra do Mar e não há relatos de que tenham trocado de animais, de acordo com estudos recentes de pesquisadores do Museu Paulista (MP).
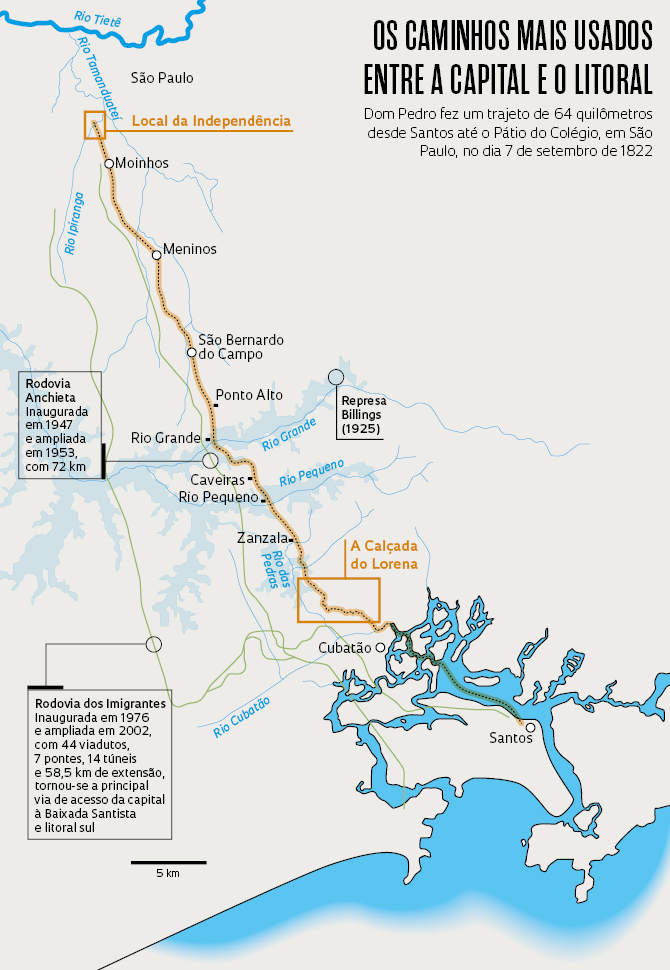 Fonte Jorge Pimentel Cintra/MP-USP | Infográfico Alexandre Affonso
Fonte Jorge Pimentel Cintra/MP-USP | Infográfico Alexandre AffonsoOutra conclusão das pesquisas: o lugar exato da declaração da Independência encontra-se na verdade a 200 metros (m) ao norte de onde o marco histórico, uma rocha em forma de paralelepípedo, foi colocado em 1825, a 600 m do riacho do Ipiranga, um córrego de 9 quilômetros (km) hoje parcialmente canalizado. O marco colocado em lugar errado foi perdido e só reencontrado em 1922, durante a reforma do Parque da Independência, mas não foi mais reposto.
“Estamos consertando muitos detalhes da história da Independência”, diz o engenheiro especializado em cartografia histórica Jorge Pimentel Cintra, da Escola Politécnica e do MP, ambos da Universidade de São Paulo (USP), que em 2013 refez e apresentou o mapa das Capitanias Hereditárias na revista Anais do Museu Paulista. Nos últimos três anos, ele consultou relatos e representações gráficas, subiu e desceu a serra do Mar várias vezes e conversou longamente com colegas historiadores.

José Rosael / Hélio Nobre / MP-USP / wikimedia commonsCalçada de Lorena, aquarela de 1826 de Oscar Pereira da SilvaJosé Rosael / Hélio Nobre / MP-USP / wikimedia commons
Como resultado, ele refez a cartografia dos 64 km percorridos em um dia por dom Pedro desde Santos até o Pátio do Colégio, então sede do governo paulista. Foi lá que terminou o dia de trabalho do então futuro primeiro imperador do Brasil. À noite ele foi ao teatro da Ópera, ostentando uma braçadeira de ouro confeccionada às pressas em que se lia “Independência ou morte”. Em uma das exposições do MP que deve ser aberta em 7 de setembro, um vídeo de 10 minutos mostrará, por meio de um sobrevoo, o caminho entre Santos e o Pátio do Colégio no dia da Independência.
Um dos mapas elaborados pela equipe do museu apresentará a Calçada do Lorena, a primeira estrada pavimentada entre a capital e o porto de Santos, usada para escoar a produção de açúcar do interior paulista. “Até agora, não havia nenhum mapa detalhado”, afirma Cintra, que percorreu o caminho marcando as coordenadas com um aparelho de GPS (ver quadro e mapa).

Werner Haberkorn / Fotolabor / Museu Paulista – USPA pista sul da Via Anchieta na fase final de construção, na década de 1950Werner Haberkorn / Fotolabor / Museu Paulista – USP
Do Paço Imperial ao Pátio do Colégio
A viagem que culminou com a Proclamação da Independência começou quase um mês antes. Na manhã de 14 de agosto de 1822, decidido a fazer alianças com fazendeiros, desfazer ameaças de motins e preparar o terreno para a separação política de Portugal, o príncipe, com sua comitiva, saiu do Palácio Imperial, atualmente chamado Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Atravessou cidades do Vale do Paraíba, então uma próspera região cafeeira e, depois de cavalgar cerca de 500 km, chegou a São Paulo em 25 de agosto (ver mapa).
Dez dias depois de conversas com políticos, beija-mãos e acenos para o povo, Pedro retomou o roteiro planejado e, agora de mula, seguiu para o litoral: desceu a Calçada do Lorena e chegou à então vila de Santos. Passou ali o dia 6, em visita a fortalezas e à família de seu ministro José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838). O historiador mineiro Eduardo Canabrava Barreiros (1908-1981) detalha esse trajeto no livro Itinerário da Independência (José Olympio, 1972).
 Fonte Jorge Pimentel Cintra/MP-USP | Infográfico Alexandre Affonso
Fonte Jorge Pimentel Cintra/MP-USP | Infográfico Alexandre Affonso“Barreiros diz que dom Pedro e sua comitiva passaram por um aterro e cruzaram rios para ir de Cubatão a Santos, mas não é possível, porque esse caminho só foi construído cinco anos depois”, comenta Cintra, após examinar os relatos e os mapas do Itinerário. Sua conclusão é de que os viajantes devem ter ido de barco ou saveiro, como os retratados em Santos na época pelo pintor e naturalista britânico William Burchell (1781-1863). “O caminho por barco passa pelo largo do Caneu, em Santos, e segue pelo rio Cubatão até o porto de desembarque”, diz ele. “Essa correção proposta pelo Cintra é absolutamente necessária, porque o que estava sendo dito não existia em 1822”, reforça o historiador e curador do MP Paulo César Garcez Marins, que não participou da pesquisa.
Na madrugada do dia 7, um sábado, Pedro, com seu grupo, voltou à capital da capitania de São Paulo subindo a Calçada do Lorena, que a equipe do museu examinou atentamente. O nome é uma homenagem ao governador da capitania de São Paulo, o português Bernardo José Maria de Lorena (1756-1818), que promoveu sua construção.

Hélio Nobre / MP-USPPadrão do Lorena, monumento em homenagem ao governador da capitania de São Paulo, o português Bernardo José Maria de Lorena, que promoveu a construção da CalçadaHélio Nobre / MP-USP
Bastante íngreme, com um desnível de cerca de 700 m entre as pontas, tem um trajeto em zigue-zague, com 133 curvas e não 180, como atestou o grupo da USP, largura entre 3,2 m e 4,5 m e uma extensão de cerca de 9 km, cercada de mata densa, com chuva constante, sem cruzar nenhum curso d’água.
A Calçada foi planejada por engenheiros militares, construída por mão de obra escravizada e operou de 1790 a 1846, substituindo “caminhos que pouco mais eram do que as primitivas trilhas indígenas”, acentuou o arquiteto e professor da USP Benedito Lima de Toledo (1934-2019) em um artigo publicado em dezembro de 2000 na revista PosFAUUSP.

Léo Ramos ChavesCasa do Grito, no parque da Independência, construída em 1844Léo Ramos Chaves
“O que mais surpreendeu a população foi a técnica empregada na pavimentação: o calçamento com lajes de pedra”, relatou Toledo. Segundo ele, a nova técnica de pavimentação assegurou “o trânsito permanente de tropas de muares que, por essa época, principiavam a ser largamente empregadas no transporte de carga”. Antes, tudo o que se destinava ao porto de Santos era “transportado no ombro de indígena”.
Tomada pela mata, a Calçada foi restaurada no início da década de 1990 pela Eletropaulo, estatal do setor elétrico hoje extinta, gerenciada pela Fundação Florestal e concedida para exploração da iniciativa privada em 2020. Foi aberta para visitação no ano seguinte e recebe atualmente de 3 mil a 5 mil pessoas por mês, de acordo com o biólogo Maycon de Oliveira Morais, da empresa Parquetur. “Aprendemos muito com a equipe do museu”, diz ele.
 Fonte Jorge Pimentel Cintra/MP-USP | Infográfico Alexandre Affonso
Fonte Jorge Pimentel Cintra/MP-USP | Infográfico Alexandre AffonsoCintra e sua equipe mapearam o primeiro trecho, de cerca de 4 km, aberto para visitação, e o segundo, com 2 km, ainda sem acesso para turistas. O trecho restante, da cota (altitude) 150 até o nível do mar, foi incorporado pela refinaria Presidente Bernardes, inaugurada em 1955. Os pesquisadores não conseguiram acesso para examinar essa parte da Calçada.
“No planalto, a Calçada passava em frente da capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, no centro da cidade de São Bernardo do Campo”, informa o pesquisador. Ele refez o trajeto usando um mapa de 1900 da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo e outro de 1832, elaborado por ordem de Rafael Tobias de Aguiar (1794-1857), então presidente da província. O príncipe regente passou também em frente ao atual Instituto de Tecnologia Mauá e cruzou duas vezes o ribeirão dos Meninos antes de chegar ao Ipiranga, então um descampado. Hoje, não há nenhum registro físico da Calçada nessas localidades.

Museu Paulista / USPCaixa de ferro e pedra fundamental da Independência, guardados no Museu PaulistaMuseu Paulista / USP
Por volta das 16h30 de 7 de setembro, Pedro e seu séquito estavam em uma colina próxima ao riacho do Ipiranga quando dois mensageiros os encontraram para entregar ao príncipe cartas de sua esposa, Leopoldina (Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo-Lorena, 1797-1826), de José Bonifácio, de dom João VI e de seu amigo Henry Chamberlain (1796-1844), descrevendo os conflitos com Portugal e incitando-o à separação política da metrópole. Inversamente, as instruções das cortes de Portugal exigiam seu regresso imediato e a prisão de José Bonifácio.
Há dois relatos sobre o que se passou em seguida.
No primeiro, registrado no livro D. Pedro I e o grito da Independência (Melhoramentos, 1921), do historiador Francisco de Assis Cintra (1887-1947), o padre Belchior Pinheiro de Oliveira (1775-1856) relatou: “Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou-os, deixou-os na relva. Eu os apanhei e guardei. Depois, virou-se para mim e disse: ‘E agora, padre Belchior?’. E eu respondi prontamente: ‘Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil será prisioneiro das cortes e, talvez, deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação’”.

Léo Ramos ChavesEstátua de dom Pedro I no parque da IndependênciaLéo Ramos Chaves
O príncipe disse ainda, enquanto caminhava: “As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações; nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil, para sempre, separado de Portugal”. E, por fim, virou-se para seu ajudante de ordens: “Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a Independência do Brasil. Estamos separados de Portugal”. Depois, proclamou novamente a Independência, diante da guarda de honra.
Apresentado no Historia do Brasil-Reino e Brasil-Imperio (Pinheiro, 1871), do historiador Alexandre Jose de Mello (1816-1882), o segundo relato, do comandante da guarda de honra, Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, barão de Pindamonhangaba (1780-1863), é mais teatral: “Diante da guarda, que descrevia um semicírculo, [o príncipe regente] estacou o seu animal e, de espada desembainhada, bradou: ‘Amigos! Estão, para sempre, quebrados os laços que nos ligavam ao governo português! E quanto aos torpes daquela nação, convido-os a fazer assim’. E arrancando do chapéu que ali trazia a fita azul e branca, a arrojou no chão, sendo nisso acompanhado por toda a guarda que, tirando dos braços o mesmo distintivo, lhe deu igual destino. […] ‘E viva o Brasil livre e independente!’, gritou dom Pedro. Ao que, desembainhando também nossas espadas, respondemos: ‘Viva o Brasil livre e independente! Viva dom Pedro, seu defensor perpétuo!’ […] E bradou ainda o príncipe: ‘Será nossa divisa de ora em diante: Independência ou morte!’.[…] Por nossa parte, e com o mais vivo entusiasmo, repetimos: ‘Independência ou morte!’”.

Wikimedia commonsIndependência ou morte, óleo sobre tela pintado em 1888 por Pedro AméricoWikimedia commons
Para saber onde tudo isso se passou, exatamente, Cintra examinou pinturas, fotos, relatos e mapas antigos. Encontrou incoerências, foi a campo com trena, bússola e GPS e mediu a distância entre o riacho do Ipiranga, com margens hoje concretadas, e uma ponte, hoje desfeita. “Em 1822, a ponte situava-se um pouco à direita da atual passarela metálica verde, mais próxima da rua Leais Paulistanos, e um pouco ao sul do curso d’água atual, retificado nesse trecho por ocasião da implantação do Monumento à Independência”, escreveu ele em um artigo de dezembro de 2021 na Anais do Museu Paulista.
Em 1825, como resultado de uma sessão da Câmara Municipal de São Paulo feita em campo e com a ajuda de topógrafos e de pessoas que testemunharam a proclamação, uma baliza foi colocada a 405 m da ponte. Por alguma razão desconhecida, 40 dias depois, sem considerar o local da baliza, provavelmente arrancada, implantou-se um marco – uma pedra –, colocado a 200 m do ponto determinado pela medição inicial.
Cintra concluiu que o lugar estava errado, por ser uma região relativamente plana, divergindo dos relatos segundo os quais o príncipe regente estava à meia altura de uma colina. “A pedra foi enterrada e perdida pouco tempo depois, encontrada em 1875 e novamente enterrada e perdida, mas ficando o local como sendo o correto”, comenta o pesquisador do MP.
Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe, que é Vossa Alteza, para orgulho e felicidade do Brasil.
E, se não ficar, correrão rios de sangue, nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal, pela opressão das cortes; nesta terra que tanto estima Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima.”
Trecho da carta de José Bonifácio
Em 1902, o médico e ornitólogo alemão Hermann Von Ihering (1850-1930), primeiro diretor do MP, levou as dúvidas sobre o local exato para um debate com os colegas do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP). Como resultado, uma comissão coordenada pelo engenheiro Antonio de Toledo Piza e Almeida (1848-1905), um dos fundadores do instituto, confirmou o equívoco da medição anterior, fez outra e instalou, agora em local correto, a 405 m da antiga ponte do Ipiranga, um mastro, ao lado de outra pedra.
Removidos em 1922 durante uma reforma do parque da Independência, não foram mais repostos – o marco está hoje no acervo do museu. “Desde 1922 nada mais se fez”, comenta Cintra, “permanecendo ignorado ou pouco destacado o lugar mais preciso da Independência”.
Se ao chegar ao planalto o futuro imperador e seu séquito estavam em mulas, mais seguras e resistentes que os cavalos, mais velozes e usados em terrenos planos, por que Pedro Américo pintou cavalos no famoso quadro Independência ou morte, conhecido também como Grito do Ipiranga, até hoje mantido como a peça mais importante do Museu Paulista?
“Por causa das convenções da pintura histórica europeia, que determinava que as montarias em cenas heroicas ou de batalhas teriam de ser cavalos”, argumenta Marins. “Essa era a maneira adequada de representar o passado. Pintar mulas seria falta de decoro.”
Américo fez o quadro por encomenda do governo imperial, inspirado no francês Ernest Meissonier (1815-1891), que pintou a Batalha de Friedland (1875). Ele expôs a obra pela primeira vez em Florença, na Itália, em 1888, em uma cerimônia à qual compareceram o imperador do Brasil dom Pedro II (1825-1891) e a rainha britânica Vitória (1819-1901). Com 4,15 m por 7,60 m, a obra foi exposta na inauguração do Museu Paulista, em 7 de setembro de 1895, permanecendo em seu salão nobre desde então.
Américo não foi o único. Além do príncipe e sua guarda em cavalos, o pintor francês François-René Moreaux (1807-1860) incluiu crianças, homens e mulheres se abraçando em seu quadro A proclamação da Independência, de 1844. Feita a pedido do Senado, a obra, com 2,44 m por 3,83 m, encontra-se no Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. “Pinturas históricas não são a realidade, mas versões do passado”, ressalta Marins.
Artigos científicos
CINTRA, J. P. Reconstruindo o mapa das Capitanias Hereditárias. Anais do Museu Paulista. v. 21, n. 3, p. 11-45. 1° dez. 2013.
TOLEDO, B. L. de. Do litoral ao planalto – A conquista da serra do Mar. PosFAUUSP. v. 8, p. 150-67. 19 dez. 2000.
CINTRA, J. P e CINTRA, A. P. O sítio da Independência no Ipiranga: As vicissitudes de um local histórico. Anais do Museu Paulista. v. 29, p. 1-48. 10 dez. 2021.
Livros
BARREIROS, E. C. Itinerário da Independência. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.
CINTRA, A. D. Pedro I e o grito da Independência; transcrição de documentos. São Paulo: Melhoramentos, 1921.
MORAES, A. J. de M. Historia do Brasil-Reino e Brasil-Imperio. Rio de Janeiro: Typographia de Pinheiro, 1871.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Diálogos sobre a democracia

Agência Senado
Refletir sobre a democracia brasileira a partir da Constituição de 1988 é o cerne do recém-lançado Acervo Digital do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec). A plataforma, que começou a ser pensada em 2019, foi desenvolvida graças a uma parceria com o Centro de Estudos Internacionais e de Política Contemporânea (Ceipoc) e o Centro de Memória, ambos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), além do apoio da FAPESP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Atualmente, o banco de dados abriga duas coleções principais. “A aba denominada experiências de pesquisa contém entrevistas com pesquisadores sobre a democracia constitucional brasileira. Memória da Constituinte traz depoimentos de protagonistas e pesquisadores sobre o processo de transição democrática e a Assembleia Nacional Constituinte realizada entre 1987 e 1988”, explica Andrei Koerner, coordenador do projeto e professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH-Unicamp). “Queremos gradativamente ampliar o número de coleções.”
A equipe é composta por 10 pesquisadores vinculados ao Cedec e quatro bolsistas de iniciação científica. Em 2020 o grupo começou a produzir a coleção Experiências de Pesquisa. “Além de falar sobre o processo de elaboração da Constituição, os relatos revelam a trajetória acadêmica dos entrevistados, os bastidores de suas investigações, voltadas ao cenário político brasileiro entre o final da década de 1980 e os dias de hoje, bem como de que forma a instabilidade política que se instaurou no país a partir de 2013 vem impactando seus trabalhos”, informa o historiador Ozias Paese Neves, integrante da equipe do Acervo Digital, que atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).

Arquivo Público do Estado de São PauloRegistro da entrega de emenda popular sobre direitos das crianças, em agosto de 1987Arquivo Público do Estado de São Paulo
Desde então a equipe ouviu sete pesquisadores, como o economista e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro dos governos José Sarney (1985-1990) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). “A listagem da bibliografia que utilizamos para preparar as entrevistas e o conteúdo adicional disponibilizado pelos próprios entrevistados ficarão acessíveis para consulta no banco de dados”, diz outra integrante do projeto, a cientista política Celly Cook Inatomi, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-Ineu), também apoiado pela FAPESP e pelo CNPq. “Esse material poderá servir de fonte não apenas para outros pesquisadores, mas também para professores do ensino fundamental e médio utilizarem em sala de aula, por exemplo.”
Dentre as entrevistas disponíveis no momento está a transcrição do depoimento da historiadora e socióloga Débora Alves Maciel, do curso de ciências sociais da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH-Unifesp). Há também um vídeo com o relato do cientista político André Singer, da FFLCH-USP. “Todas as transcrições serão acompanhadas do vídeo da entrevista e vamos disponibilizar trechos desse material audiovisual para serem compartilhados nas redes sociais”, conta Koerner.
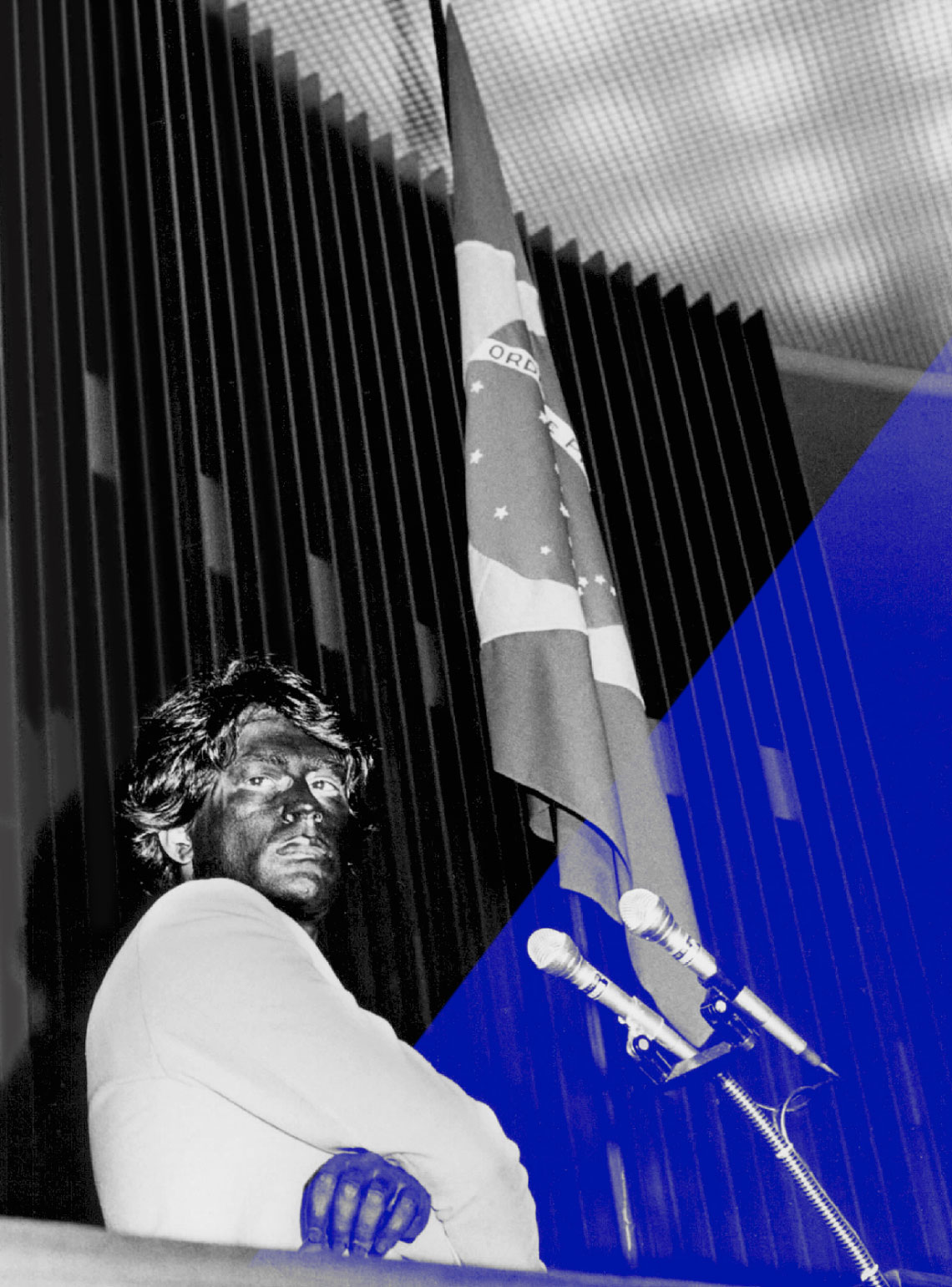
Zuleika de Souza / Agil / Biblioteca NacionalNa tribuna do Congresso, Ailton Krenak fez a defesa de emenda sobre os direitos indígenas, perante a Comissão de Sistematização Zuleika de Souza / Agil / Biblioteca Nacional
A meta para este ano é recolher outros quatro depoimentos de pesquisadores radicados no Brasil. “Aprendemos muito ao preparar e realizar as entrevistas. Elas têm trazido elementos importantes para que os integrantes do projeto reflitam sobre questões contemporâneas como a crise da democracia. A ideia é que essas reflexões se desdobrem em artigos a respeito dessas temáticas”, relata o cientista político Lucas Baptista de Oliveira, professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Caixeiro-viajante
“A sistemática de coleta dos depoimentos é lenta e laboriosa. Além disso, alguns entrevistados faleceram antes de concluir o ciclo, sem conferir o conteúdo e autorizar sua publicação, o que inviabiliza a veiculação da entrevista”, informa o economista e cientista político Antônio Sérgio Rocha, coordenador do projeto Memória da Constituinte, a outra coleção presente no banco de dados.
A origem de Memória da Constituinte está no projeto “Constituição: Teoria e prática”, que nasceu em 2008 no Cedec sob a coordenação de Cicero Araujo, da FFLCH-USP (ver Pesquisa FAPESP n° 274). Na época, Araujo reuniu um grupo de pesquisadores, entre eles Rocha. “Após ler exaustivamente sobre as Constituições brasileiras desde o século XIX, resolvemos entrevistar pessoas que vivenciaram o processo Constituinte de 1987-1988, como o advogado e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Grau, autor do livro A Constituinte e a Constituição que teremos [Editora Revista dos Tribunais, 1985]”, recorda Rocha, professor da EFLCH-Unifesp, campus de Guarulhos.
Ao longo do tempo, a ideia inicial se desdobrou em outros projetos, sempre realizados pelo Cedec e, a partir de 2013, em conjunto com o curso de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). A parceria, que aconteceu por intermédio do advogado José Francisco Siqueira Neto, professor daquela instituição de ensino, resultou no Colóquio nacional percurso constitucional brasileiro (2013) e no Simpósio internacional processos Constituintes comparados (2014), ambos sediados na UPM. Entre 2016 e 2018, a iniciativa contou com o apoio da FAPESP.

Acervo Museu da RepúblicaAdesivo com desenho do cartunista Henfil (1944-1988) foi utilizado para estimular a participação da sociedade civil nos trabalhos da ConstituinteAcervo Museu da República
Ao todo foram realizadas 152 entrevistas. Há cerca de quatro anos, 22 desses depoimentos passaram a ser disponibilizados no site do Cedec. Agora o material está sendo transferido para o Acervo Digital – 17 entrevistas já foram indexadas e encontram-se disponíveis para consulta. “Esses depoimentos mostram que a trajetória até a Constituinte de 1988 foi longa e iniciada pela sociedade civil ainda durante a ditatura militar [1964-1985]. Em 1971, por exemplo, o MDB escreveu a Carta do Recife, documento em que o partido oposicionista pretendia pressionar o regime pela reconstitucionalização do país”, aponta Rocha.
Essa pauta também mobilizava figuras públicas como o jurista Dalmo Dallari (1931-2022), professor emérito da Faculdade de Direito da USP, que em 2008 declarou ao projeto: “Precisávamos de uma Constituinte para que no Brasil houvesse uma Constituição verdadeira, autêntica. Começaram a surgir, principalmente depois de 1979, alguns trabalhos, alguns artigos sobre o assunto. […] Isso veio pouco depois da Lei da Anistia. Já havia, embora com algum temor, a possibilidade de fazer publicações. E aí se lançou a ideia de uma Constituinte, que depois se divulgou e teve grande circulação, por vários meios. Eu próprio virei um caixeiro-viajante da Constituinte, circulava por muitos lugares do Brasil. Relembro uma dessas viagens. Eu tinha ido falar em Pirapora, norte de Minas Gerais, com alguns grupos organizados. E um fato me surpreendeu: eu estava falando de Constituinte quando me disseram: ‘Está aqui uma delegação de mulheres, do bairro Tiradentes, que quer lhe entregar um documento’. Eu as recebi. Elas tinham preparado propostas para a Constituinte” (ver Pesquisa FAPESP n° 315).

Acervo CEDI / CDO deputado Ulysses Guimarães (1916-1992), presidente da Assembléia Nacional Constituinte, exibe o primeiro exemplar da Constituição de 1988Acervo CEDI / CD
Segundo Rocha, além das entrevistas, o Acervo Digital contará com documentação extra, como a cronologia dos 613 dias do processo de elaboração do texto constitucional, as bancadas partidárias que participaram da votação do documento e vídeos. “Um deles traz o antológico discurso do ativista indígena Ailton Krenak no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, que mudou a votação do capítulo sobre a demarcação das terras indígenas”, conta. O conteúdo de Memória da Constituinte, entretanto, não ficará circunscrito ao mundo virtual. No momento, o pesquisador organiza o material em formato de livro, que deve ser lançado em oito volumes. “A expectativa é de que três deles saiam no próximo semestre”, finaliza o professor da Unifesp.
Projetos
1. Implementação do Núcleo de Pesquisa em Ciências Sociais e Tecnologias Digitais (nº 19/06157-5); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa; Pesquisador responsável Andrei Koerner (Cedec); Investimento R$85.824,44.
2. A Constituinte recuperada. Vozes da transição, memória da redemocratização, 1983-1988 (nº 15/07080-5); Modalidade Auxílio à pesquisa – Regular; Pesquisador responsável Antônio Sérgio Carvalho Rocha (Cedec); Investimento R$86.193,64.
Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
Pink Floyd: “Another Brick In The Wall”
Construindo o Planeta Terra
Pensando alto sobre o Afeganistão: observações incompletas sobre a insurgência revolucionária
Não me surpreende que a imprensa ocidental continue a utilizar o termo “terroristas” para se referir ao Talibã – da mesma forma como fazia com o Estado Islâmico do Iraque e do Levante –. A imprensa (e não me refiro apenas à americana e inglesa), afinal, abraçou a estratégia da chamada “Guerra ao Terror” de Washington e Londres, e, assim, asseverar a adjetivação de “terrorista” é indispensável para alcançar a legitimação pelos consumidores da indústria de notícias do mundo globalizado (ou seria “americanizado”?) dos anseios do Império. Isso, obviamente adaptado aos seus próprios contextos, pode ser dito ainda mais certeiramente sobre as estratégias da China para convencer seus próprios cidadãos em relação a Xinjiang.
O fato é que o Talibã (assim como o Estado Islâmico) não é primariamente um grupo terrorista, mas sim um grupo revolucionário. E utilizar o termo apropriado não se trata apenas duma simples escolha retórica, mas de reconhecer as origens e os condicionantes da situação afegã (e paquistanesa) atual. O Talibã tem utilizado estratégias do terrorismo revolucionário para alcançar seus objetivos, dos quais o principal é a construção dum Estado revolucionário. Assim, reduzi-lo a um “grupo terrorista” é não compreender que não é a guerra que o destruirá, pois por trás da violência e morte que o acompanham está um pensamento político insurgente revolucionário.
A história está repleta de exemplos de uso do terrorismo revolucionário por grupos insurgentes com o intento de fundar um novo Estado: Jacobinos franceses, Bolcheviques russos, Khmer Rouge cambojano, Sionistas na Palestina, Islamistas em diferentes países do Oriente Médio, da Ásia e da África. A lógica é a de que um grupo rebelde ou um partido de vanguarda lidere o processo revolucionário.
Esses diferentes grupos revolucionários utilizam uma mescla de convencimento, intimidação, doutrinação e violência, com maior ou menor sucesso, para alcançarem seus objetivos. Mas tratá-los simplesmente como criminosos é ignorar que sua motivação é persistente e pode sobreviver – como o fez o Talibã – às divisões internas e aos ataques militares de seus inimigos…
Pensando em voz alta sobre o mito do Afeganistão
Há séculos uma utopia alienígena tem dominado os anseios dos pretensos conquistadores dos pashtuns e dos daris: a formação dum Estado nacional chamado Afeganistão. O erro que os impérios britânico e russo do século XIX, e os impérios soviético e americano do século XX, assim como o Paquistão, cometeram foi o de querer transformar múltiplas sociedades tribais num Estado-nação.
O próprio Talibã, que agora retorna ao “poder” (poderíamos até debater o sentido desse termo para os diferentes povos que habitam o “Afeganistão”), cometeu o mesmo erro: por influência soviética, americana e paquistanesa, sonhavam em construir um Estado nacional que neutralizasse as diferenças socioculturais das variadas tribos ao redor duma noção muito específica de Islã. O antiamericanismo nunca foi seu credo – até porque eles foram criados pelo Império Americano –, a construção duma nação sim. Entretanto, desde o século XVIII, o Afeganistão nunca foi uma nação: tem sido, no máximo, e sob mão de ferro, apenas uma confederação de tribos que partilham duma identidade pashtun (e às outras etnias tem restado apenas a submissão).
O Estado-tampão do século XIX, que servia apenas aos interesses dos impérios russo e britânico, tornou-se – no século XX – uma anedota monárquica para as classes urbanas de Cabul. Como no caso da Pérsia/Irã, a monarquia e sua modernidade serviam apenas como fantoches para o imperialismo europeu. A monarquia constitucional, o liberalismo, o comunismo, e todas as demais ideologias ocidentais representavam uma traição. A imprensa ocidental que cobriu a primeira tomada do poder pelo Talibã não compreendia que o problema não era apenas o violento fanatismo político com máscaras de religioso; era, mais ainda, a imposição duma identidade cultural e duma entidade política indesejada – afinal, nem todos são pashtuns, e nem todos desejam fazer parte duma nação pashtun naquilo que os outros chamam de Afeganistão.
O Afeganistão talvez seja o maior símbolo de fracasso do modelo ocidental de Estado-nação. Enquanto um Estado multinacional, como o Brasil, quase conseguiu convencer seus cidadãos a aderirem ao mito do Estado-nação (alguns dos povos originários ainda resistem), no Afeganistão, até hoje, o mito só foi imposto à bala e à espada…
A little bit of ISSAM…
Sandra Belê – “Escombros”
Você pergunta o que é oração para mim?… 3 letras: EDM
Legado Negado: a escravidão no Brasil em um guia incorreto
Identidades, Memória, e Tradição da Saudade no Estudo de Língua, Cultura e História Brasileiras em Nova York
Gibson da Costa
[Ensaio apresentado no FIE 2011.]
RESUMO: Considerando nossas experiências no ensino de Língua, Cultura e História Brasileiras a jovens brasileiros na cidade de Nova York, refletimos neste ensaio acerca do papel da memória, enquanto representação seletiva do passado, na construção duma identidade étnica e nacional de jovens brasileiros migrantes e transnacionais no ensino secundário. Para isso, optamos pelo exercício da própria memória na escrita deste texto, relatando as experiências que nos levaram a desenvolver nossa compreensão da construção identitária étnica e nacional, esclarecendo, ao mesmo tempo, noções de identificação étnica e (trans)nacional, além de esclarecer a noção que chamamos de “tradição da saudade”.
PALAVRAS-CHAVE: tradição da saudade; identidade; memória; ensino de História.
1. Introdução
Neste ensaio, refletiremos acerca de nossa experiência no ensino de jovens estudantes brasileiros transnacionais e/ou migrados no ensino secundário na cidade de Nova York. As reflexões aqui presentes baseiam-se em nossas próprias experiências como brasileiro transnacional e professor de alunos imigrantes e transnacionais. Nossa discussão centra-se no papel da memória enquanto uma representação seletiva do passado e enquanto eixo na (re)construção e (re)interpretação de identidades étnicas e nacionais.
Para nossa reflexão acerca desse papel desempenhado pela memória, fazemos uso do relato de nossas próprias experiências, emoldurado pelas perspectivas da antropóloga Loretta Baldassar acerca da construção da identidade transnacional, e das perspectivas das psicólogas Karmela Liebkind e Jean Phinney sobre a construção da identidade étnica e nacional de adolescentes. A linha condutora de nossa reflexão é a de que a construção de identidades transnacionais se dá por meio da experiência daquilo que aqui chamamos de tradição da saudade.
Por este texto ser uma reflexão acerca da memória enquanto meio de construção identitária, escolhemos fazer uso dela mesma para a elaboração de nossas ideias. Sendo assim, é através de uma narração de nossas próprias lembranças das experiências que tivemos com um grupo específico de alunos que esperamos refletir sobre o tema que aqui discutimos.
2. Definições iniciais
Muitas vezes, ao refletirmos acerca da relação entre o ensino de História e o processo de construção identitária no ambiente escolar, podemos não avançar além da noção já bem estabelecida deste processo como referindo-se apenas à identidade nacional. Essa perspectiva de “identidade” como uma referência à nacionalidade está frequentemente limitada pela concepção dominante na sociedade como um todo, e na escola em particular, da unicidade da identidade étnica brasileira.
O mito da unicidade étnica parece servir como pano de fundo para o que poderíamos chamar aqui de tradição memorial da escola brasileira – a memória social como construída na escola. Assim, nossa tradição memorial escolar ensina que o “povo brasileiro” foi formado por apenas três grupos distintos (portugueses, índios, negros); fala uma única língua (a “língua portuguesa”); professa apenas uma religião (o cristianismo); e está unido por traços culturais comuns (aqueles característicos dos grandes centros urbanos de influência). Como eixo central dessa concepção identitária encontra-se, além das características citadas, a visão dos laços de territorialidade – ou seja, é brasileiro aquele que nasceu em território brasileiro.
Pensamos em memória aqui como um termo detentor de dois sentidos básicos: [1] como uma capacidade peculiar à espécie humana de processar – biológica, social, cultural e historicamente – nossa percepção do mundo (BOCK et al., 2009, p. 157); e, [2] como uma representação seletiva do passado por parte dum indivíduo (ou comunidade) contextualizado num ambiente familiar, social, nacional (ROUSSO, 1992). O segundo sentido é o que mais interessa-nos em nossa presente reflexão.
A memória, enquanto representação seletiva do passado, é elemento constituinte do processo de formação da identidade (étnica ou nacional) dum indivíduo. Ela desempenha um papel (quiçá primordial) nos laços de sentido construídos entre um indivíduo e sua comunidade. Esses laços, cujas representações poderiam ser encontradas em experiências objetivas ou subjetivas, são o que chamamos aqui de identidade.
Faz-se necessário, ainda, definirmos o sentido que queremos dar à ideia de etnicidade que nos acompanhará no decurso de nossa reflexão. Identidade étnica refere-se ao sentimento que tem um indivíduo de pertencer a um grupo étnico particular (LIEBKIND, 1992, 2001; PHINNEY, 1990). A identidade étnica é geralmente vista como aglutinadora de vários aspectos, como auto-identificação, sentimentos de pertencimento e comprometimento a um grupo, valores comuns, e atitudes para com o próprio grupo étnico. Aqui, usaremos os termos etnia, etnicidade, grupo étnico, ou identidade étnica para nos referirmos a subgrupos dentro de um contexto maior (por exemplo, nação) que reclamam uma origem comum e partilham de um ou mais dos seguintes elementos: cultura, religião, língua, parentesco, e lugar de origem. É importante estabelecer que a diferença entre identidade étnica e identidade nacional, aqui, é que a segunda consiste numa construção muito mais complexa, envolvendo sentimentos de pertencimento e atitudes para com a sociedade como um todo, extrapolando o círculo étnico com o qual se identifica mais estreitamente o indivíduo (PHINNEY, DEVICH-NAVARRO, 1997).
Considerando a noção que adotamos para a ideia de etnicidade, podemos afirmar que há uma multiplicidade étnica na sociedade brasileira que, de forma geral, não é prevista pela tradição memorial da escola, especialmente no ensino de História. Ou seja, os brasileiros sobre os quais fala a História ensinada na escola não são aqueles de outras origens que não aquelas do tradicional racialismo tripartite; não são os brasileiros que falam outras línguas maternas que não a que se chama de língua portuguesa (populações indígenas, populações de fronteiras, comunidades de imigrantes no Brasil, e os brasileiros emigrados e transnacionais); não são os adeptos de outras religiões minoritárias (especialmente o judaísmo, o islã, e as tradições orientais trazidas por imigrantes asiáticos) praticadas no Brasil do passado ou de hoje; não são os brasileiros cujo contexto cultural não se encaixa nos moldes estereotipados duma suposta “brasilidade”; e muito menos, são os brasileiros emigrados e transnacionais, cuja participação na identidade nacional é ignorada pela citada tradição memorial escolar, apesar de ser reconhecida pela tradição jurídica brasileira1. Esse esquecimento duma parcela dos brasileiros na tradição memorial escolar torna-se visível mais claramente nos livros didáticos usados para o ensino histórico; livros esses, cuja narrativa exclui aqueles brasileiros supracitados.
O adjetivo transnacional refere-se, aqui, especificamente aos brasileiros nascidos no exterior, ou detentores de cidadania do país receptor (se brasileiros emigrados), e que ainda mantêm laços identitários com sua cultura de origem, ao mesmo tempo em que também se identificam como nacionais do país onde nasceram ou onde se naturalizaram.
3. A tradição da saudade na construção identitária transnacional
Aqui, refletiremos acerca das relações possíveis entre a memória (como representação seletiva do passado), a experiência transnacional e o ensino escolar de História como instrumento na construção de uma identidade transnacional de jovens brasileiros emigrados ou filhos de brasileiros na região metropolitana de Nova York, Estados Unidos. Os jovens aos quais fazemos menção neste ensaio, frequentaram o ensino secundário em escolas públicas de Nova York nos anos letivos de 2004 e 2005, tendo participado de aulas de “Língua, Cultura e História Brasileiras” oferecidas como um programa opcional para estudantes de high school2. Os alunos matriculados nesse programa somavam um total de quinze jovens, sendo nove moças e seis rapazes: três dessas moças e dois desses rapazes, nasceram nos Estados Unidos – sendo filhos de pais brasileiros emigrados –, enquanto dez deles – seis moças e quatro rapazes – nasceram no Brasil, tendo chegado aos Estados Unidos antes dos dez anos de idade.
Participamos como colaborador nesse projeto de ensino de “Língua, Cultura e História Brasileiras”, que surgira com patrocínio de uma comunidade religiosa com grande concentração de brasileiros e uma high school, em Nova York, e que foi desenvolvido durante os anos letivos de 2004 e 2005. As experiências dos participantes naquele programa (professores e estudantes) auxiliaram as citadas comunidade religiosa e escola a refletirem acerca das necessidades dos jovens identificados como brasileiros em seu meio, tendo transformado algumas de suas conclusões em solicitações às autoridades municipais.
Nossa experiência naquele programa de educação transnacional envolveu um estudo comparativo e discussão sobre a imigração nos Estados Unidos e no Brasil. Durante as discussões sobre o tema, frequentemente veio à tona a maneira como a questão da identidade nacional era encarada por brasileiros e por norte-americanos. Ao término daquela unidade temática, requisitamos dos alunos um texto dissertativo sobre a experiência migratória. Todos os textos versaram ao redor de dois temas principais: o que era ser brasileiro em uma terra estrangeira, e o que era ser um cidadão americano de origem brasileira numa cidade com tanta diversidade cultural quanto Nova York.
Os textos escritos pelos alunos daquele programa, assim como as discussões que frequentemente mantínhamos em classe, faziam um uso recorrente da palavra inglesa ‘home‘ (lar/casa, em português). Além disso, era também recorrente a comparação do ‘aqui‘ versus ‘lá‘ – com o sentido geográfico sendo, muitas vezes, alterado: o ‘aqui‘ podendo significar os Estados Unidos ou o Brasil, dependendo do histórico pessoal de cada aluno e do aspecto histórico-cultural que estava em discussão, e vice versa.
As experiências que tivemos, em sala, com aqueles alunos parece-nos apontar que a ideia de nacionalidade está sempre ligada ao sentimento de “lar”. Enquanto a noção de identidade étnica não requer necessariamente uma memória de localização geográfica, a identidade nacional parece sempre exigir a dicotomia ‘aqui‘ versus ‘lá‘, criando uma divisão externa para limitar-se identitariamente. A construção dessa dicotomia já havia sido apontada como uma marca da experiência migratória pela antropóloga Loretta Baldassar (1997, p. 70), quando escreveu que “a migração não consiste simplesmente na partida e no estabelecimento de um lar em um novo país. Consiste também nos laços com a antiga terra natal e na influência dessa ligação no desenvolvimento da identidade étnica na nova pátria”.
Na experiência de muitos transnacionais, a migração carrega em si um elemento de trauma, causado pelo abandono do que antes era familiar na antiga pátria. A memória exerce para esses uma função de ligação com os lugares e pessoas que ficaram para trás, e, assim, pode ser dolorosa, já que é uma lembrança do que está ausente no presente; ao mesmo tempo em que exerce uma função enraizadora numa identidade cultural íntima, ligada a uma história pessoal e a um senso de pertença em meio à mudança. A essa experiência específica da memória daremos aqui o nome de tradição da saudade.
Pessoalmente, experienciamos essa tradição da saudade em diferentes direções em nossas vivências migratórias, assim como também testemunhamos a experiência de jovens que passaram por vivências semelhantes. Em meio a essa crise enfrentada pelo migrante, qualquer ligação com a cultura de origem pode servir de suporte para a construção da nova identidade, que poderá ser repensada e reconstruída muitas vezes, dependendo de como se configure(m) a(s) experiência(s) migratória(s) do indivíduo. Algumas dessas ligações, na experiência de nossos alunos em Nova York, eram as próprias aulas de “Língua, Cultura e História Brasileiras”, o envolvimento com a comunidade brasileira local, uma ligação com as tradições religiosas de origem, e um contato com a cultura brasileira produzida nos Estados Unidos e/ou no Brasil.
Há jovens brasileiros, entretanto, que passam por experiências migratórias mais complexas. Como exemplo, poderíamos citar um de nossos alunos no programa, que aqui identificaremos pela inicial de seu primeiro nome – “A” –, que apesar de haver nascido no Brasil, tinha pai norte-americano e mãe uruguaia. Além dessa transnacionalidade familiar, sua família era judia ortodoxa, o que acrescentava um elemento a mais na complexidade étnica que o circundava. “A” viveu no Brasil até os quatro anos de idade, quando mudou-se para Israel – tendo lá vivido até os nove –, e posteriormente mudou-se para os Estados Unidos. Ou seja, para ele, a construção duma identidade nacional não era algo fácil, já que possuía ligações a diferentes lugares, e falava diferentes línguas. Além de todas essas marcas identitárias, “A” vinha de uma família que enfatizava muito fortemente sua etnia judaica, o que o distanciava ainda mais da concepção de unicidade étnica brasileira. Sua família, seus amigos, e mesmo outros alunos do programa, não o viam como brasileiro, apesar de ele perceber-se plenamente como tal, o que aparentemente confirma a sugestão de Phinney (1990) de que a auto-identificação étnica de um indivíduo pode ser diferente daquela percebida por outros.
Que relação poderia ter o ensino de História com a construção duma identidade transnacional naqueles estudantes, levando-se em consideração o fato de o programa ter tentado criar diálogos entre as histórias brasileira e norte-americana para aqueles jovens migrantes? Há alguma vantagem num empreendimento como esse para a criação ou fortalecimento de laços culturais entre jovens brasileiros emigrados e seu país de origem? Essas questões se repetiram durante todo o nosso envolvimento com o programa, já que alguns professores acreditavam que, para os jovens migrantes, o essencial seria a integração à cultura na qual estavam agora inseridos. Para um outro grupo, o contato com a cultura nacional de origem – o que inclui uma apreciação pela língua e história, por exemplo – contribuiria para que os estudantes pudessem lidar melhor com sua experiência da tradição da saudade – optando pela perspectiva assumida por Baldassar (1997, p. 70), como explicada anteriormente.
Nossas próprias experiências transnacionais, e o processo de construção identitária fluida que delas resultou, forçou-nos a enxergar a escola como uma experiência essencial na construção de pontes de ligação não apenas à cultura na qual tentam se inserir os imigrantes, mas também àquilo que deixam alhures. Sendo assim, nosso envolvimento anterior com o ensino bilingue de alunos transnacionais, e posteriormente com aquele programa destinado especificamente a jovens estudantes brasileiros baseava-se na concepção defendida por Loretta Baldasser de que a ligação com a cultura de origem influencia (positivamente, em nossa opinião) o desenvolvimento da nova identidade étnica ou nacional.
4. A tradição da saudade e a (re)construção e (re)interpretação de representações memoriais
Como a memória tem sua base referencial no passado, ela é flexível, enquanto material para a construção de interpretações do passado e do presente. “Memórias, imagens, identidades construídas são sempre incompletas porque correspondem a uma multiplicidade de experiências vividas por indivíduos e grupos sociais que não se encontram parados no tempo, mas em contínua transformação” (SANTOS, 1998, p. 11). A memória é, assim, inacabada.
Essa fluidez memorial desempenha, como consequência, um papel marcante na compreensão que o migrante tem de sua própria identidade nacional, enquanto estando geográfica e temporalmente alhures. Sua interpretação da memória identitária nacional – que não se baseia necessariamente em experiências objetivas pessoais – é influenciada e, até certo ponto, moldada pelas experiências do presente, quando pensamos em migrados que estejam no país receptor há muito tempo. Para transnacionais, a interpretação dessa memória identitária nacional depende, frequentemente, daquela assumida por sua própria família e sua comunidade migrante, já que essas representam a ligação mais imediata que possuem com a cultura de origem da família.
Nesse cenário de construção de representações memoriais e de (re)interpretações das mesmas, destaca-se o ensino direcionado a determinados grupos étnicos em países com grande movimentação imigratória, como os Estados Unidos. Esse tipo de ensino, que, em muitos casos, resume-se a um programa de aulas bilingues, muitas vezes funciona como locus de transição para uma assimilação identitária em jovens migrantes, ao mesmo tempo em que funciona como um território de tensão identitária para jovens transnacionais (CUMMINS, 1989; PHINNEY, DEVICH-NAVARRO, 1997).
Em nossa experiência no programa de “Língua, Cultura e História Brasileiras” em Nova York pudemos presenciar o impacto causado em nossos jovens alunos o fato de explorarem aquele território de tensão. Para a maioria deles, aquela era a primeira oportunidade de encararem-se como estrangeiros de forma mais ampla, já que, em seus relatos, na escola eram sempre apontados como latinos e nunca como especificamente brasileiros; seus amigos não-hispanos não compreendiam as diferenças étnicas/nacionais entre brasileiros e hispanos, assim como também não compreendiam as diferenças entre os vários grupos étnicos/nacionais hispânicos. Por outro lado, para seus amigos hispanos aqueles jovens brasileiros não eram parte plena de seu grupo étnico, especialmente se não falassem espanhol – ou, mais propriamente, no caso específico da comunidade onde ensinávamos, spanglish3 –, o que, para muitos deles, funcionava como uma pressão a mais em sua construção identitária étnica/nacional: alguns sofriam a pressão no lar para serem mais brasileiros, a pressão dos amigos para se encaixarem em algum grupo aceitável, e a pressão da sociedade como um todo para serem “americanos” (o que, grosso modo, significava falarem inglês fluentemente e se portarem de maneira aceitável para os padrões culturais estadunidenses).
Toda essa pressão sofrida por aqueles jovens – pressão essa que sempre testemunháramos, enquanto ensinávamos a alunos transnacionais, mas que parecia ser muito maior no caso de nossos outros alunos em situação ilegal no país, e que, por essa razão, não se encaixariam em nossa presente noção de transnacionalidade – parecia só reforçar a noção de nossos colegas professores que se opunham àquela forma de ensino. Em muitas ocasiões, ouvimos que aquele tipo de programa era um desperdício e um retrocesso, já que (para esses colegas) o papel da escola era absorver esses alunos e fazê-los juntarem-se ao mainstream da sociedade norte-americana, e não o de reforçar as diferenças. Em alguns momentos anteriores àquele envolvimento nesse programa, observando o desempenho de grupos de alunos em disciplinas como Língua Inglesa e História dos Estados Unidos, receamos que o ensino bilingue fosse realmente um problema em termos de levá-los a uma integração com a sociedade na qual viviam agora. Entretanto, o programa de “Língua, Cultura e História Brasileiras” era uma tentativa de sairmos daquele velho formato de ensino bilingue, até aquele ponto tão característico de grandes centros migratórios nos Estados Unidos.
Em nossas discussões em sala, tínhamos a oportunidade de tratar o Brasil a partir de diferentes temas como o processo de colonização, a escravidão, a imigração, a industrialização, os problemas urbanos, o êxodo rural, a democracia, a violência urbana, as desigualdades sociais, e as questões ambientais – dando especial ênfase à vida no Brasil dos dias atuais. Em nossas aulas, usávamos livros de ficção e não-ficção, recortes de jornais, artigos de revistas, filmes, cenas de telenovelas e comerciais de televisão, fotografias, cartões postais, música, e outros materiais produzidos no Brasil. Além disso, usávamos também materiais produzidos nos próprios Estados Unidos, como referências em livros didáticos e reportagens de televisão, além de artigos na imprensa – e a partir disso, discutíamos a maneira como o Brasil era retratado em seu próprio território e no exterior. Os alunos visitavam atividades culturais da comunidade brasileira, e recebiam a visita de brasileiros envolvidos com a comunidade brasileira local.
A resposta dada pelos alunos às provocações causadas pelo que líamos, assistíamos, ouvíamos, visitávamos e posteriormente discutíamos em classe era suficientemente convincente para que pudéssemos afirmar que um trabalho como aquele, mesmo que não tivesse uma aparente importância acadêmica, colaborava na (re)construção e (re)interpretação dum lado identitário que, para alguns de nossos alunos, estava esquecido em decorrência da distância e tensão do viver num confuso território de múltiplas identidades que tinham a necessidade de serem manifestas.
A mobilização das competências não apenas cognitivas, como também emocionais, causada por aquele aprendizado construído em conjunto, faz-nos lembrar das palavras do filósofo francês, que escreveu: “O movimento, por sua vez, implica uma pluralidade de centros, uma sobreposição de perspectivas, um emaranhado de pontos de vista, uma coexistência de momentos que essencialmente distorcem a representação” (DELEUZE, 1994, p. 67).
A representação do eu, como um indivíduo modelado por e construtor duma identidade étnica e nacional é um ser em movimento. Entretanto, esse movimento é ainda mais intensificado quando pensamos num indivíduo moldado pela experiência migratória, que expõe-se a diferentes “centros” de influência. Essa não é uma experiência que possa ser apenas especificada na individualidade, pois é característica da experiência migratória universal. Essa é aquela experiência que chamamos de tradição da saudade: a lembrança do que ficou para trás, a realidade manifesta na vivência do agora, e, como resultado da tensão criada por essas duas, uma identidade própria – que, enquanto se enraíza no presente, visita o passado para criar novos sentidos em meio a todas as mudanças. Essa experiência marcava-nos naquela turma: professor e alunos.
O Brasil que enxergávamos juntos, e o sentido de ser brasileiros que alcançávamos, não eram os mesmos que seriam enxergados e alcançados pelos brasileiros no Brasil. Além de serem brasileiros, aqueles jovens eram construtores habilidosos de pontes culturais e diplomáticas – e não apenas na comunidade escolar, mas também no seio de suas próprias famílias. Eram políticos que se engajavam na sobrevivência dentre diferentes momentos que “distorciam” sua representação memorial. Eram brasileiros emigrados e transnacionais que se arriscaram a descobrir um pedaço deles mesmos. E mais ainda, eram brasileiros esquecidos e ignorados pela tradição memorial do Brasil como um todo, e da escola brasileira em particular.
5. Considerações finais
No mundo cada vez mais globalizado no qual vivemos, onde há uma contínua movimentação migratória ocasionada pelas mais diferentes razões, é importante pensar acerca do sentido da identidade étnica e cultural. O Brasil, que apesar de ter sido historicamente um importante pólo de recebimento de imigrantes, é hoje um importante portão de emigração, com brasileiros vivendo em todos os continentes do globo.
O que esperamos dos pequenos brasileiros que hoje vivem no exterior e dos brasileiros que nascerão no exterior nas décadas adiante? Que tipo de apoio nossa tradição memorial oferecerá a esses brasileiros que, provavelmente, também experimentarão a confusão da tradição da saudade? Diremos algo sobre eles nos nossos livros didáticos? Ou continuaremos a ignorá-los, assim como ignoramos as comunidades de imigrantes em nosso país e os brasileiros da fronteira?
As responsabilidades que aguardam um país que deseja se destacar no cenário internacional, incluem o cuidado com todos os seus nacionais – estejam eles em seu território ou alhures. Acreditamos que disponibilizar meios para que os brasileiros que estão em outras terras possam aprender algo sobre sua herança – como sua língua, cultura e história –, é algo que deve fazer parte dos planos do Estado brasileiro. Enquanto isso não ocorre – e que provavelmente não ocorrerá brevemente, considerando que não se investe suficientemente nem na educação dos brasileiros que estão aqui mesmo –, esperamos que, pelo menos, os autores de livros didáticos se esforcem para reconhecer em seus textos os brasileiros sempre esquecidos: aqueles que comunicam-se nativamente em outras línguas que não o português, aqueles que nasceram e/ou cresceram em outros países ou nas áreas de fronteira entre o Brasil e seus vizinhos, e aqueles alheios ao estereótipo cultural atribuído aos nacionais do Brasil, estejam esses aqui mesmo ou em outras terras.
6. Referências bibliográficas
BALDASSAR, Loretta. Home and away: Migration, the return visit and ‘transnational’ identity. In: Ang, I; Seymonds, M. (eds.). Communal/Plural 5: Home, Displacement, Belonging. Sydney, Austrália: Research Centre in Intercommunal Studies, UWS Nepean, 1997.
BOCK, Ana M. B.; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes T. Psicologias: Uma introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional nº 39 de 19 de dezembro de 2002. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003.
_______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 25 abr. 2011.
CUMMINS, Jim. Empowering Minority Students. Sacramento, EUA: California Association for Bilingual Education, 1989.
DELEUZE, Gilles. Difference and Repetition. Tradução ao inglês de Paul Patton. Nova York, EUA: Columbia University Press, 1994.
LIEBKIND, Karmela. Ethnic identity: Challenging the boundaries of social psychology. In: Breakwell, G. (ed.). Social psychology of identity and the self-concept. Londres, Reino Unido: Academic, 1992. p. 147-185.
_____________. Acculturation. In: Brown, R.; Gaertner, S. (eds.). Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes. Oxford, Reino Unido: Blackwell, 2001. p. 386-406.
PHINNEY, Jean S. Ethnic identity in adolescents and adults: A review of research. In: Psychological Bulletin, Volume 108, Issue 3. Washington, EUA: American Psychological Association, 1990. p. 499-514.
PHINNEY, Jean S.; DEVICH-NAVARRO, Mona. Variations in bicultural identification among African American and Mexican American adolescents. In: Journal of Research on Adolescence, Volume 7. Ann Arbor, EUA: Society for Research on Adolescence, 1997. p. 3-32.
ROUSSO, Henry. La mémoire n’est plus ce qu’elle était. In: Écrire l’histoire du temps présent. Paris, França: CNRS, 1992.
SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Sobre a autonomia das novas identidades coletivas: alguns problemas teóricos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Out. 1998, vol. 13, nº 38. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69091998000300010&script=sci_arttext>. Acesso em: 25 abr. 2011.
NOTAS
1 De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, Capítulo III, Artigo 12, há duas formas de aquisição da nacionalidade brasileira: aquela chamada de forma primária ou originária, que consiste na utilização dos critérios do jus solis e/ou do jus sanguinis; e aquela chamada de forma secundária ou adquirida, que consiste na naturalização. Quando mencionamos aqui brasileiros nascidos no exterior, nos referimos àqueles cujo direito à nacionalidade deriva dos critérios do jus sanguinis, apesar de, não necessariamente, já possuírem a cidadania brasileira, já que esta, de acordo com a Constituição de 1988 (entre 1994 e 2007), dependia de sua fixação em território nacional. A redação dada pela Emenda Constitucional de número 54, de 2007, confere a nacionalidade brasileira também aos nascidos no exterior, de pai ou mãe brasileira, que tenham sido registrados em repartição brasileira competente (representações consulares).
2 A High School corresponde ao Ensino Médio brasileiro.
3 Uma mistura informal de espanhol e inglês, especialmente na fala de jovens hispanos.
Uma nota sobre o Rota 2030: O “capitalismo” desejado pela indústria automobilística

Gibson Da Costa
Todos já se acostumaram à ladainha política contra tudo de “esquerda” no Brasil – seja lá o que “esquerda” signifique em 2018 –, aquela mesma ladainha que ajudou a eleger Jair Bolsonaro como o próximo Presidente da República. Os defensores do discurso da neodireita “nacional” tornaram-se os apóstolos da visão conservadora americana de que um “Estado mínimo” – isto é, um Estado que não se responsabilize pelo bem-estar social de seus cidadãos – seja o símbolo da “nova” civilização próspera que as elites econômicas e políticas desejam para si mesmos (e não para o todo da população). A diminuição na tributação de grandes empresas seria, para eles, o primeiro passo para o mundo novo que esperam.
As elites econômicas e políticas brasileiras têm sido bem-sucedidas em seu esforço de lobby junto ao Congresso e ao governo federal – mesmo nos governos descritos como de “esquerda”. De 2006 a 2018, através do Inovar-Auto e da redução do IPI (imposto sobre produtos industrializados), segundo a Instituição Fiscal Independente (órgão do Senado responsável pelo acompanhamento e fiscalização da política fiscal do governo federal), a indústria automobilística foi beneficiária de cerca de R$28 bilhões em subsídios do governo federal. Esse tipo de subsídios à indústria automobilística, a propósito, têm sido uma tradição brasileira desde fins da década de 1950, quando o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, através do GEIA (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), promoveu a instalação e atividades de montadoras automobilísticas multinacionais, as quais receberam auxílio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BAER, 2008).
Entre 2013 e 2017, os subsídios a essa indústria custaram mais de R$5 bilhões ao contribuinte brasileiro, até que o programa Inovar-Auto fosse condenado pela Organização Mundial do Comércio. Agora, o governo brasileiro renova o antigo programa com um novo nome, chamando-o de “Rota 2030” – tendo o Presidente Michel Temer sancionado ontem a Lei nº 13.755/2018, que estabelece o programa. O mesmo estabelece que as empresas automobilísticas tenham descontados dos variados impostos os investimentos que façam em pesquisa e tecnologia.
A pergunta que pode e deve ser feita, em tempos de discursos pró-mercado, é se o financiamento de pesquisa e tecnologia por empresas que dependem dessas para seu lucro deve ser realmente pago pelos contribuintes que têm sofrido com o corte de investimentos públicos em “serviços” básicos. Além disso, que vantagens esses mesmos contribuintes têm como consequência desses subsídios, considerando que entre 2014 e 2016, só nas montadoras, houve um corte de mais de 30 mil vagas? Para não citar aquelas perdidas nas áreas correlatas como indústria de autopeças e concessionárias, que, junto com as montadoras, somaram uma perda de mais de 200 mil vagas (SILVA, 2016).
Por que os contribuintes brasileiros deveriam arcar com os custos que deveriam ser daqueles que desejam lucrar com o investimento (as montadoras multinacionais), se não terão garantia dum retorno significativo no custo do produto final ou da criação/manutenção de postos de trabalho?… Não é interessante esse capitalismo da indústria automobilística e das elites brasileiras?
Referências:
BAER, Werner. The Brazilian economy: growth and development. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008.
SILVA, Cleide. Em dois anos, setor automotivo tem 200 mil cortes. Exame, 12 set. 2016. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/economia/em-dois-anos-setor-automotivo-tem-200-mil-cortes/>. Acesso em: 12 dez. 2018.
Notas sobre o apartheid na África do Sul

Gibson Da Costa
“Apartheid” é uma palavra da língua africâner que significa “separação” e se refere a um sistema de segregação racial praticado pela minoria de origem europeia (branca) contra uma maioria nativa (negra) na África do Sul, de 1948 a 1991.
As noções de supremacia branca e segregação racial chegaram à África do Sul com os primeiros colonos europeus. A Companhia Holandesa das Índias Orientais importou escravos da África Oriental e da Malásia assim que estabeleceu uma pequena colônia no Cabo da Boa Esperança, em 1652. Apesar de os britânicos terem abolido a escravidão logo após terem anexado a Colônia do Cabo, em 1806, mantiveram várias instituições e práticas que garantiam o controle político e econômico dos brancos sobre a maioria negra. No início do século XX, os britânicos controlavam toda a atual África do Sul, com o poder político quase que inteiramente nas mãos de pessoas de ascendência europeia. Com a Lei da União, de 1910, a África do Sul ganhou o status de “Domínio” dentro do Império Britânico e autogoverno limitado.
Entre 1910 e 1948, o governo da União estabeleceu muitas leis que restringiram severamente os direitos das populações negras. Aos negros foi negada a cidadania plena por meio de medidas como a Lei do Passe (lei que exigia que os negros carregassem livretos de identidades, parecidos com passaportes, nos quais eram registrados os locais aonde podiam ir), reservas de trabalho, restrições ao voto, negação ao direito de organização de sindicatos etc. As Leis das Terras Nativas de 1913 e 1936 relegaram a maioria africana a reservas nativas, forçando entre 85% a 90% da população, em teoria – apesar de nunca, de fato –, a viver em menos de 14% da terra. Os 86% restantes da terra foram reservados apenas para brancos.
Assim, quando Daniel F. Malan (1874-1959) e o seu Partido Nacionalista Africâner venceram as eleições gerais de 1948, com um plano que oficialmente endorsava o apartheid, o conceito não era desconhecido nem às populações brancas nem negras. Ironicamente, numa época na qual a Europa e a América do Norte estavam tomando ações para acabar com a discriminação legalizada contra minorias étnicas, os sul-africanos brancos começaram a implantar um dos mais duros sistemas de discriminação racial total na história mundial.
A filosofia política do apartheid baseava-se em quatro pontos principais:
-
o “desenvolvimento separado” dos quatro grupos raciais oficiais no país;
-
o controle pelos brancos de todos os aspectos do governo e da sociedade;
-
os interesses dos brancos como sendo superiores aos interesses dos negros, sem nenhuma exigência para a provisão de direitos iguais a todos os grupos;
-
a categorização de “brancos” (pessoas de ascendência europeia) como uma única nação e de “africanos” como membros de muitas nações distintas.
Os quatro grupos raciais oficialmente reconhecidos pelo apartheid foram:
-
Africanos, também chamados de Bantus → formavam cerca de 78% da população total e, apesar de possuírem uma ancestralidade comum, foram divididos em nove nações distintas: Zulu, Xhosa, Venda, Tsonga, Pedi, Tswana, Swazi, Ndebele e Sotho.
-
Coloureds (em inglês) ou Kleurlinge (em africâner) → nome dado às pessoas de origens mestiças com ancestrais africanos, europeus e malaios, e que podiam traçar suas origens ao início da colonização europeia.
-
Asiáticos → termo utilizado para se referir às pessoas de origem indiana.
-
Europeus → termo utilizado para fazer referência aos sul-africanos brancos de origem europeia.
“Coloureds” e “asiáticos” representavam entre 9% e 10% da população. Os demais 12% ou 13% eram formados pelos “europeus” – com cerca de 60% desses tendo origem holandesa e 40% com origem inglesa (apesar de imigrantes de todas as nações europeias estarem representados nessa única “nação”).
O sistema do apartheid foi descrito, às vezes, como tendo dois aspectos, chamados de grande e pequeno apartheid. O “grande apartheid” se refere àquelas leis racialmente discriminatórias que se relacionavam com a terra e a política. O “pequeno apartheid” se refere aos exemplos cotidianos de discriminação racial, como restrições de casamento, segregação de serviços públicos, zoneamento de residências, segregação de empregos, transporte e educação.
O Período Baaskap
Durante a primeira década seguinte às eleições de 1948, as políticas do apartheid foram desenvolvidas de forma crua sob o nome de baaskap. Esse termo africâner pode ser traduzido como “superioridade” ou “controle”, e faz referência à ideia de “supremacia branca”, com sua explícita noção da relação entre mestre e servo que deveria haver entre europeus e africanos.
É importante lembrarmo-nos de que o apartheid está intrinsecamente ligado ao nacionalismo africâner. Assim, não podemos desassociar as leis de segregação estrita e supremacia branca da aparente obsessão dos líderes africâneres com sobrevivência cultural e seu temor do chamado “swart gevaar” (“perigo negro”). Algumas dessas leis foram as seguintes:
-
Lei de Proibição de Casamentos Mestiços (1949) – proibia o casamento entre pessoas de grupos raciais diferentes;
-
Lei Contra a Imoralidade (1950) – tornou crime a relação sexual entre pessoas de grupos raciais diferentes;
-
Lei de Registro da População (1950) – exigia que todos fossem registrados como membros de um dos grupos raciais oficiais;
-
Lei das Áreas de Grupo (1950) – estabelecia os limites raciais da geografia urbana, prescrevendo a cada grupo diferentes bairros residenciais/comerciais nas áreas urbanas. Com base nessa lei, não brancos eram retirados das áreas que o governo considerava mais nobres, tendo sido empurrados para cada vez mais longe de onde podiam conseguir trabalho;
-
Lei de Supressão do Comunismo (1950) – além de banir o Partido Comunista da África do Sul, definia qualquer opositor do apartheid como comunista e terrorista – a pena incluía perda de direitos políticos, prisão e o banimento a alguma outra região do país (os brancos que se opunham publicamente ao apartheid foram punidos com base nessa lei) [NOTA: no discurso “Estou preparado para morrer” (“I am prepared to die”, em inglês), Nelson Mandela faz referência a essa tática de identificar todos os inimigos do apartheid como comunistas e explica por que esses dois grupos se aproximaram, apesar de suas diferenças];
-
Lei de Reserva de Espaços, Veículos e Serviços Públicos Separados (1953) – lei que legalizava a segregação racial em todos os espaços, veículos e serviços públicos; apenas as ruas e rodovias estavam excluídas desta lei.
-
Lei da Educação Bantu (1953) – desautorizava as escolas privadas e religiosas e colocava todo o sistema educacional nacional sob a direção do governo, resultando num significativo declínio na qualidade da educação dos negros.
A imagem acima pode ajudar a perceber como o apartheid funcionava na organização do espaço urbano. No centro, vemos a cidade “europeia” de Graaf-Reinat, na Província do Cabo Oriental. Ao seu redor, vemos outras povoações, onde moravam “africanos” e “coloureds”. Essa separação cumpria às exigências da Lei das Áreas de Grupo. Para que esses “africanos” e “coloureds” saíssem de suas casas e fossem trabalhar para os “europeus”, tinham de carregar seus livretos de passe (passaportes), em obediência à Lei do Passe. Esses “africanos” e “coloureds” não podiam ir a uma loja, a um parque, a uma biblioteca ou a um hospital naquela cidade “europeia”: tinham de fazê-lo, cada grupo, em sua respectiva área – em obediência à Lei de Reserva de Espaços, Veículos e Serviços Públicos Separados. Qualquer um deles – inclusive brancos – que protestasse contra isso seria punido com base na Lei de Supressão do Comunismo.
O Período do Desenvolvimento Separado
Em 1958, Hendrik Verwoerd (1901-1966), conhecido como o “arquiteto chefe do apartheid”, tornou-se primeiro ministro. Sob seu governo, o apartheid tornou-se uma política racista mais sofisticada chamada de “desenvolvimento separado”. Sob o desenvolvimento separado, cada um dos nove grupos “africanos” (ou “bantu”) passou a ter sua própria nação – chamada de “Bantustão” –, localizadas naqueles 14% de terras reservados pelas Leis das Terras Nativas de 1913 e 1936. Os 86% restantes do país estavam reservados apenas para os brancos: essas incluíam as melhores terras agrícolas, as principais áreas urbanas, os depósitos minerais conhecidos e as minas.
A compreensão que sustentava a filosofia política do “desenvolvimento separado” era a de que os “africanos” deveriam retornar às suas pátrias independentes, e, lá, se desenvolver social, econômica, cultural e politicamente de acordo com seus próprios desejos. O argumento era de que, dessa forma, todas as nações da África do Sul – a “nação” branca e as nove “nações” negras – teriam autodeterminação e não seriam forçadas a viver sob um governo estrangeiro.
A autodeterminação, contudo, só se iniciaria quando os “africanos” entrassem em sua pátria. Eles não tinham a escolha de se mudar ou não, apesar de muitos terem vivido há gerações em cidades e de nunca terem estado sequer próximo à sua pátria designada. Ademais, muitos “africanos” tinham ancestrais de diferentes origens, com, por exemplo, um avô xhosa e uma avó sotho, ou uma outra combinação dos nove diferentes grupos. Agora, eles teriam um documento que oficialmente os classificaria como pertencendo a apenas um desses grupos e como cidadãos duma pátria artificial criada pelo governo. Eles eram, agora, estrangeiros na África do Sul – um país que, teoricamente, não mais possuía cidadãos negros, e havia se tornado um país majoritariamente branco.
Em 1963, o regime do apartheid concedeu uma autonomia limitada ao primeiro dos bantustões, Transkei (uma pátria xhosa). Entre 1976 e 1981, Transkei, Bophuthatswana (uma pátria tswana), Venda (pátria venda) e Ciskei (uma pátria xhosa) receberam sua “independência” do governo da República da África do Sul – apesar de nenhum outro governo do mundo haver reconhecido essas “nações”. KwaZulu, KwaNdebele, Lebowa, KaNgwane, Gazankulu e Qwa Qwa foram declarados como “autônomos” ao longo da década de 1970. Nenhuma dessas pátrias, contudo, jamais foi economicamente viável. Elas consistiam basicamente de terras incultiváveis. As famílias dependiam dos familiares que trabalhavam nas áreas brancas e enviavam seus salários para casa. Todas essas pátrias foram abolidas em 1994, e suas terras foram reincorporadas ao território da República da África do Sul.
Oposição
A oposição ao apartheid se iniciou imediatamente após as eleições de 1948. Armado com a Lei de Supressão do Comunismo – que, apesar de suas políticas racistas, fez com que a África do Sul ganhasse apoio dos EUA e da Grã-Bretanha durante a Guerra Fria –, o regime do apartheid conseguiu esmagar a maioria da resistência interna. O mais importante grupo negro de oposição foi o Congresso Nacional Africano (CNA), cujos membros incluíam Albert Luthuli (1898-1967; ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1961), Walter Sisulu (1912-2003), Oliver Tambo (1917-1993) e Nelson Mandela (1918-2013). Em 1955, o Congresso do Povo adotou a chamada “Carta da Liberdade” que exigia uma África do Sul multirracial e democrática; esta carta foi adotada pelo CNA.
Já no início da década de 1960, enquanto dezenas de nações africanas conseguiram sua independência, a África do Sul enfrentava uma crescente condenação internacional – especialmente advinda dos países do chamado bloco socialista. Em 1961, o país deixou a Comunidade Britânica de Nações, em vez de ser forçado a abandonar o apartheid. No mesmo ano, as Igrejas Reformadas Holandesas da África do Sul abandonaram o Conselho Mundial de Igrejas. O país também perdeu seu direito a voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, e foi banido dos jogos olímpicos e de muitas organizações internacionais.
Sob a liderança de Nelson Mandela, o CNA formou uma ala militar em 1961, chamada de “Umkonto we Sizwe” (Lança da Nação), que recorria à violência em sua resistência ao apartheid. Em 1963, Mandela e sete outros foram julgados e condenados à prisão perpétua.
O governo, a essa altura, já havia banido todas as organizações que se opunham ao sistema, e colocado na prisão ou em detenção residencial muitos dos opositores – lideranças políticas e religiosas, escritores, artistas, professores, jornalistas, estudantes.
Hendrik Verwoerd foi assassinado em 1966, e sob seu sucessor, Balthazar Johannes Vorster (1915-1983), alguns aspectos do “pequeno apartheid” foram relaxados. A decisão do governo, em 1976, de exigir instrução obrigatória em africâner nas escolas “africanas” deu início a uma série de revoltas – que se iniciaram em Soweto e depois se espalharam pelo país.
É importante perceber que, para os sul-africanos que não possuíam origem holandesa, a língua africâner sempre esteve associada à ideia do nacionalismo bôer e intrinsecamente ligado ao apartheid. A língua utilizada pelos sistemas de educação dos grupos “africanos” ou “asiáticos” era o inglês. Por isso a revolta como reação à nova decisão: agora, o regime do apartheid, além de tirar a cidadania, as terras, a dignidade humana dos negros, imporia sua língua às crianças e jovens africanos.
Em 1978, Pieter Willem Botha (1916-2006) tornou-se primeiro ministro e começou a conceder aos “coloureds” e aos “asiáticos” alguns direitos políticos limitados, tentando, assim, melhorar a imagem do país no cenário internacional e conseguir desses dois grupos o apoio necessário para a permanência do regime.
Após a independência do Zimbábue, em 1981, a África do Sul e a Namíbia (uma antiga colônia alemã que fora tomada pela África do Sul, desde 1915) continuaram como os únicos países africanos governados por grupos de origem europeia, e enfrentavam uma forte pressão interna e externa por mudanças. A África do Sul passou a sofrer sanções econômicas cada vez mais duras, que incluíam a alienação de filiais de grandes corporações americanas no país.
O fim do apartheid
Em 1989, Frederik Willem de Klerk (1936-…) tornou-se primeiro ministro e imediatamente anunciou a soltura de muitos presos políticos negros. Em fevereiro de 1990, ele declarou, no Parlamento, que o apartheid havia falhado, que o banimento de todos os partidos políticos seria anulado e que Nelson Mandela seria libertado – depois de 27 anos de prisão. Em 1991, todas as leis do apartheid foram abolidas. Após três anos de intensas negociações, todos os lados concordaram, em 1993, com os passos para a formação dum governo transitório multirracial e multipartidário.
As eleições aconteceram em abril de 1994, e Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente eleito pela maioria, de forma livre e direta, na história da África do Sul. Em 1995, ele formou a Comissão da Verdade e Reconciliação, com o arcebispo anglicano Desmond Tutu (1931-…) como seu diretor, para investigar os abusos sofridos por todos os sul-africanos durante o regime do apartheid. A comissão anunciava como sua missão não a punição, mas o conhecimento do passado e a reconciliação entre os vários grupos divididos durante o apartheid.
FONTES
BENSON, M. Nelson Mandela, the man and the movement. Harmondsworth, Inglaterra: Penguin, 1994.
DEGRUCHNY, J.W.; VILLA-VICENCIO, C. (eds.). Apartheid is a heresy. Grand Rapids, EUA: W. B. Eerdmans, 1983.
LAPPING, B. Apartheid: a history. Nova York, EUA: G. Braziller, 1989.
THOMPSON, L. M. A history of South Africa. 3.ed. New Haven, EUA: Yale University Press, 2000.
WELSH, David. The rise and fall of apartheid. Charlottesville, EUA: University of Virginia Press, 2009.
WORDEN, Nigel. The making of modern South Africa. 5.ed. Malden, EUA: Wiley-Blackwell, 2012.
_______________________________________________________
FILMES DE INTERESSE:
EM NOME DA HONRA. Phillip Noyce (dir.). França / Reino Unido / África do Sul / EUA: Working Title Films, 2006. 1 filme (101 min.), son., col. [Título original: Catch a fire]. Leg. português.
INVICTUS. Clint Eastwood (dir.). EUA/África do Sul: Liberty Pictures, 2009. 1 filme (133 min.), son., col. [Título original: Invictus]. Leg. português.
MANDELA – A LUTA PELA LIBERDADE. Bille August (dir.). África do Sul / Itália / Reino Unido / Luxemburgo / Alemanha / França: Film Afrika Worldwide, 2007. 1 filme (118 min.), son., col. [Título original: Goodbye Bafana]. Leg. português.
REPÓRTERES DE GUERRA. Steven Silver (dir.). Canadá/África do Sul: Paramount Pictures, 2010. 1 filme (106 min.), son., col. [Título original: The Bang Bang Club]. Leg. português.
SOMBRAS DO PASSADO. Tom Hooper (dir.). Reino Unido/África do Sul: BBC Films, 2004. 1 filme (110 min.), son., col. [Título original: Red Dust]. Leg. português.
